Em estado de emergência
 Para não esquecer: o nome dessa coluna foi roubado de Clarice Lispector. Sempre que eu pego esse livro para ler e vejo aquele título, eu o leio para não esquecer. Menos porque seja uma ordem, e mais porque ali está um esboço do seu método: escrever é para não esquecer, é para prolongar o tempo “dividi-lo em partículas de segundos, dando a cada uma delas uma vida insubstituível”. Método que Clarice definirá explicitamente em A Hora da Estrela: “esta história acontece em estado de emergência de calamidade pública”.
Para não esquecer: o nome dessa coluna foi roubado de Clarice Lispector. Sempre que eu pego esse livro para ler e vejo aquele título, eu o leio para não esquecer. Menos porque seja uma ordem, e mais porque ali está um esboço do seu método: escrever é para não esquecer, é para prolongar o tempo “dividi-lo em partículas de segundos, dando a cada uma delas uma vida insubstituível”. Método que Clarice definirá explicitamente em A Hora da Estrela: “esta história acontece em estado de emergência de calamidade pública”.
Para não esquecer estabelece um vínculo com a memória, não para viver a nostalgia do passado perdido, mas para fazer desse passado uma presença. E é de presença que se faz o presente e só a partir dele podemos pensar no futuro. De modo que, o que se escreverá aqui terá o sentimento de uma “saudade do futuro” – crônicas anacrônicas que juntarão passado e futuro para pensar aqui e agora.
Para não esquecer é a tentativa de reavivar uma capacidade de sentir todas as coisas do mundo – os cheiros, as respirações, os sussurros, os gritos, as vozes. O que não chega a ser um privilégio; é, mais precisamente, um estado patológico, é puro pathos – é feito de e com paixão. Embora essa capacidade de sentir pareça profunda e íntima, ela só pode ser exterior. Então, ao invés de intimidades, falarei de extimidades. Porque, como dizia Paul Valéry, o mais profundo é a pele. E é a partir deste fragmento de Valéry que Deleuze elabora uma leitura do acontecimento, conceituando-o como o que nos toca, o que nos toca a pele e “é seguindo a fronteira, margeando a superfície que passamos dos corpos ao incorporal”. É do efeito produzido por esse incorporal que surge um acontecimento. Deste modo, os acontecimentos são infinitos e ilimitados e sua característica é a insistência.
Para não esquecer é para falar disso que insiste. Do que insiste fantasmagoricamente para se reafirmar como acontecimento. Uma pura energia vital latente que pode irromper a qualquer momento. O que não deixa de ser uma forma de esperança, uma abertura ao devir. Daí a imagem que compõe esta coluna, da coleção Vanitas de Justine Reyes, que me foi apresentada pelo Fabiano Camilo. Em português, quando nos referimos a esse tipo de imagem dizemos “Natureza Morta”; em inglês diz-se “Still Life”, vida ainda. Porque ali ainda há vida, uma vida que sobrevive na imagem. O que nos cabe é retomá-la na sua contingência e devolver a ela possibilidades. Essa coluna falará, portanto, dessa relação íntima entre arte e vida, entre literatura e vida. De uma nova forma de esperança, porque a literatura, já dizia Deleuze, é uma saúde. Ou ainda, em uma das definições mais bonitas de arte, que é de Hélio Oiticica: ela cria possibilidades de vida.
Para não esquecer não significa que a amnésia não seja um bom remédio. Mas que é preciso lembrar para esquecer ou na boa fórmula freudiana: recordar, repetir, elaborar. Porque os acontecimentos se dão nesse amor de transferência, nos efeitos que projetamos e recebemos, com quem estabelecemos as trocas. Mas isso não quer dizer que escolhemos nossos destinatários: eles são o mundo. Pura projeção e receptividade, os acontecimentos contêm certa alienação de um estado de graça, um estado transitório de felicidade. Que não é um estado de espírito, ao contrário, ele se condensa na materialidade do corpo, na profundidade da pele.
Para não esquecer entende, como María Zambrano, que a ruína é uma metáfora da esperança. Mas não esquece que a ruína surge da catástrofe que se anuncia todos os dias e que ela também é uma forma de acontecimento. Essa coluna é assinada por mim, mas tem a autoria do tempo e das imagens, porque o que vemos também nos olha. O que ela pretende é, à maneira sugerida por Walter Benjamin, ler Still Life ao invés de Natureza Morta; potencializar o presente.
Para não esquecer é uma homenagem à Clarice Lispector e será escrita de acordo com seu método: em estado de emergência.
Flávia Cêra
[1] Em 2010 fui convidada para ter uma coluna no portal O pensador selvagem que intitulei Para não esquecer. Este texto, Em estado de emergência, foi escrito para sua abertura.
Bibliografia e ressonâncias
“O sintoma como acontecimento de corpo não condena a nenhum solipsismo ou individualismo. Ele advém num corpo tomado pela linguagem, isto é, num corpo tomado no laço social com os outros”[1].
 O termo parlêtre vem substituir o inconsciente freudiano, e traz consigo a dimensão do sintoma como acontecimento de corpo. O Outro é o corpo onde se inscreve algo que é chamado de marca[2]. A participação do corpo incluído no próprio conceito do inconsciente não promove um individualismo ou solipsismo, mas redimensiona as relações do sujeito com o discurso.
O termo parlêtre vem substituir o inconsciente freudiano, e traz consigo a dimensão do sintoma como acontecimento de corpo. O Outro é o corpo onde se inscreve algo que é chamado de marca[2]. A participação do corpo incluído no próprio conceito do inconsciente não promove um individualismo ou solipsismo, mas redimensiona as relações do sujeito com o discurso.
Referir-nos ao laço social permite destacar a vertente transindividual do inconsciente sustentada no conceito de discurso e na sua articulação com o discurso do mestre. É desta perspectiva que a relação com o coletivo e com a época podem ser pensadas, a partir “dos significantes mestres que constituem os laços sociais, que não são outra coisa, que sua dimensão política”[3].
Esta dimensão transindividual e política se enoda na frase de Lacan “o Inconsciente é a política”, o que nos permite articular a afirmação de Miller: ao extrair o inconsciente da esfera solipsista para inseri-lo na cidade é preciso saber que a cidade não existe mais, que o espaço político da cidade ou do estado foi tomado pela globalização[4].
O espaço político é global, os significantes mestres que tocam o corpo também o são. O corpo marcado pela linguagem inclui o laço que o discurso do mestre perfaz.
É preciso entender o laço ou coletivo não mais a partir da identificação ao pai, como na massa freudiana, e pensá-lo a partir daquilo que afeta os corpos. O acontecimento de corpo pode ser generalizado como um traço inscrito no corpo falante do falasser[5] e assim localizar como os corpos se articulam no laço. Como tomar o acontecimento de corpo nessa perspectiva? Como os corpos podem ou não serem marcados nesse laço?
Podemos dizer que há algo que se inscreve no corpo em determinadas experiências coletivas, mas esse comum que acaba por inscrever-se no corpo não se reduz a uma marca de afeto compartilhada, é de outra ordem[6].
Em Formas de voltar para casa, Alejandro Zambra toca a nostalgia de uma marca que não aconteceu como se imaginava, marcas do trauma que parecem não doer como deveriam, certa alienação do laço social ao mesmo tempo que viveu estas relações no compasso cotidiano dos anos de ditadura em seu país.
Em suas Ficções, a relação com o tempo, com a satisfação, o ideal e o horror se presentifica em suas linhas e seus vazios, num entrelaçamento obscuro e ao mesmo tempo imprescindível entre personagens e histórias, que parecem ser os mesmos na medida que não o são. Sua escrita faz sentir a hiância que alimenta o texto, que se vive ao lê-lo. É no próprio texto que outro tempo histórico se costura e as marcas aparecem sob outra ótica daquela compartilhada socialmente.
Embora esse seja apenas um aspecto de sua obra, o tomo como exemplo de que embora os corpos possam sofrer uma marca coletiva de um acontecimento como o foi a ditadura no Chile, o singular permanece na hiancia do entrelaçamento das palavras.
Paola Salinas (EBP/AMP)
[1] Laurent, É. O avesso da biopolítica. Uma escrita para o gozo. Rio de Janeiro, Contra Capa, 2016, p. 23.
[2] Lacan, J. O seminário, Livro 14. A lógica do fantasma. Mimeo. Aula de 10/05/67. Inédito.
[3] Holguin, C. “En la política de los seres hablantes, el analista es una arma”. In: Bitácora Lacaniana. Revista de Psicoanalisis de la Nueva Escuela Lacaniana – NEL. n 6, septiembre de 2017. Olivos, Grama Ediciones, p. 21.
[4] Miller, J.-A. (2002) “Intuições Milanesas I”. Opção Lacaniana on line nova série. Ano 2, n. 5, julho de 2011.
[5] Laurent. É. “O falasser político”. Op.Cit. p. 213.
[6] Miller, J.-A. “La “Common Decency” de Oumma”. Publicado no Le point.fr em 6/2/15. Disponível em espanhol: www.eol.ar Jacques Alain Miller on line.
“Na estrutura do engano do sujeito suposto saber, o psicanalista (mas quem é, e onde fica, e quando é – esgotem a lira das categorias, isto é, a indeterminação de seu sujeito – o psicanalista?), o psicanalista, no entanto, tem que encontrar a certeza de seu ato e a hiância que constitui sua lei”[7].
No texto de onde essa passagem foi extraída, “O engano do sujeito suposto saber”, Lacan promove uma depuração da perspectiva do inconsciente. Algumas alegações remontam aos esforços freudianos inaugurais de situar um inconsciente distinto daquele definido pelo senso comum; outras são mais sensíveis, pois contestam perspectivas cultivadas dentro do próprio campo psicanalítico. O inconsciente, escreve Lacan, não é “o pattern de comportamento, a tendência instintiva […], a emergência desenvolvimentista que falseia o sentido das fases pré-genitais” etc. Além disso, ele alude à comicidade do saber absoluto, ao inconsciente que não tem um “ser próprio” e recorda que “sua estrutura não caía no âmbito de nenhuma representação”. Até mesmo sua elaboração do inconsciente como discurso do Outro parece ser revisitada de viés.
O inconsciente aqui transmitido por Lacan é enxuto, simples… e perturbador: “que possa haver um dizer que se diz sem que a gente saiba quem o diz”. Ele não impacta por ser antigo, recalcado ou inconfessável, mas por produzir uma “resistência ôn-tica”, ou seja, a resistência em assimilar, em nós, “que se possa dizer alguma coisa sem que nenhum sujeito o saiba”. Ocorre que essa contração conceitual que faz do inconsciente algo ao mesmo tempo tão trivial e tão crítico não fragiliza apenas a solidez daqueles que experimentam em si suas manifestações, mas também a da posição do psicanalista. Afinal, como ancorar sua interpretação sem contar com a suposição de que esse saber já estava lá? É justamente aqui que se pressente a tensão entre os termos certeza e hiância, que compõem a frase comentada e que demandaria ser mais explorada.
Pensei, então, nos desafios atuais com a experiência do inconsciente e senti a tentação de apontar para aqueles sujeitos tão fortemente aferrados às suas identidades que não poderiam senão rechaçar esse “dizer que se diz sem que a gente saiba quem o diz”. Um efeito de punctum se deu quando uma observação de Lacan, feito no início do texto, veio à mente. A descoberta “mais revolucionária que já houve para o pensamento”, aquela do inconsciente, foi “esquecida” pelos psicanalistas, que quiseram “tranquilizar a si mesmos” e tomaram “a experiência dela como privilégio deles”.
Tomar a crítica de Lacan apenas como um dado histórico, dirigida a psicanalistas ultrapassados, seria, também, tranquilizador. Mas uma interrogação se impôs: mesmo firmemente orientados pela noção de um inconsciente tão hiante, ainda existiria o risco de tomarmos sua experiência como nosso privilégio? Que forma teria esse risco?
Rodrigo Lyra (EBP/AMP)
[7] Lacan, J. “O engano do sujeito suposto saber”. Outros escritos. Jorge Zahar.Rio de Janeiro. P. 339.
Os três (mais um) planos da presença do analista
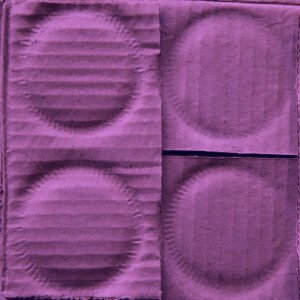 Tudo indica que retornamos a tempos pré-lacanianos quando temos que afirmar seguidamente que a presença do analista não é a incidência de sua pessoa no discurso analisante. Sem o analista como gente, sem empatia ou humanidade não há análise. São, porém, condições necessárias, mas não suficientes. Pior, tomadas como direção e motor da análise só levam ao doutrinamento ou, nos termos de Lacan, à identificação com o analista – quando se trata de transferência positiva – ou ainda a um contínuo enfrentamento – quando a transferência negativa está em primeiro plano. Vale conferir as indicações abundantes de Lacan a esse respeito em seus primeiros seminários ou em textos como A direção do tratamento.
Tudo indica que retornamos a tempos pré-lacanianos quando temos que afirmar seguidamente que a presença do analista não é a incidência de sua pessoa no discurso analisante. Sem o analista como gente, sem empatia ou humanidade não há análise. São, porém, condições necessárias, mas não suficientes. Pior, tomadas como direção e motor da análise só levam ao doutrinamento ou, nos termos de Lacan, à identificação com o analista – quando se trata de transferência positiva – ou ainda a um contínuo enfrentamento – quando a transferência negativa está em primeiro plano. Vale conferir as indicações abundantes de Lacan a esse respeito em seus primeiros seminários ou em textos como A direção do tratamento.
O perigo, porém, é fugir da empatia e da compreensão para cair nos braços de uma ontologia do silêncio e do mistério. O real passa a ser o silêncio das pulsões, inescrutável e inefável. A presença do analista passa a ser tomada como o real da psicanálise, como se bastasse estar na presença do analista para que houvesse análise. Ora, foi exatamente contra esse desvio que se insurgiu Lacan com relação à aberração que constituía a figura do didata na IPA de seu tempo. Esse também é o perigo de pensarmos, em tempo de análises on line, que a presença corporal bastaria como garantia da presença. Nunca é demais lembrar que quando Lacan fala em “o analista”, está falando de uma função, de uma posição, um “lugar de fala” no encontro analítico, que às vezes se materializa, às vezes não. A função analista é contingente. A presença do analista é ôntica, não ontológica. Nos termos de Miller, é existência, um ente, um existente e não um ser.
Bem-vindos, então, aos paradoxos de uma presença que não é, mas ainda assim é. É a presença como aquela que sustenta a existência, nos ditos do analisante, não de um indizível, mas sim da possibilidade de um dizer “a mais”. É contraintuitivo, mas assim é nosso trabalho, o de uma presença que se articula “ao que se diz”, como seu não-dito e que, apesar de ser articulada “ao que não se diz”, ainda assim é alguma coisa.
Este é o paradoxo que abordamos, desde Lacan, com o termo resto. O resto tanto é quanto não é. Não faz parte do que se diz, mas está por ali, por “cair” do dito. Uma vez dito o dito, o resto cai dele como aquilo que não era para estar ali.
Creio que o aforismo de Lacan em O Aturdito é uma maneira de retomar essa intrincada articulação, sem o imaginário do excluído e do lixo que sempre acompanham o resto. Além disso, assume todo o seu valor, quando estamos em um plano de exclusão e desigualdade no grau de violência que é o da nossa sociedade. Afinal, não é porque que alguém é excluído que não deva ganhar lugar. Já o resto lacaniano, é o resto irredutível, que nunca terá lugar a não ser como desencaixado.
Que se diga fica esquecido por trás do que se diz em o que se ouve.[1] Essa foi a tradução possível nos Outros Escritos. O “em o que…” ficou feio, mais natural seria dizer “no que…”, mas foi o modo de não perder a ideia de que aquilo que fica esquecido, assim fica, por estar “em”, dentro (dans) daquilo que se ouve.
Mas o mais difícil nessa frase me parece o “ouvir” (entendre). Há toda uma diferença entre uma atitude meio passiva, ouvir e uma ativa, de recorte e escolha em escutar ou mesmo entender que é outra tradução possível do termo usado por Lacan. Das três possibilidades, claramente Lacan fala de alguma coisa prévia ao ato de escutar, por isso optamos por ouvir na tradução oficial. Escutar ou entender é coisa da consciência que edita o discurso do Outro. Lacan está falando de um processo da fala, do ato de fala e não do ato de edição, de leitura do discurso do Outro, que fazemos a cada vez que conseguimos, dele, entender alguma coisa. Mas temos que ter em mente as três opções.
Então, para começar correndo o risco de escorregar no esquematismo didático, vamos experimentar o entendre como escutar. A tradução ficaria assim: Que se diga fica esquecido atrás daquilo que se escuta naquilo que se ouve. Vamos, agora, redizer a formulação passo a passo e de trás para frente. Quando algo se escuta naquilo que se disse, o dizer, o fato do dizer, o ato de enunciação, fica ofuscado pelo que, do que se disse, se entendeu.
Ora, essa operação de esquecimento, própria do discurso, esconde o gap entre o que se entende e o que se fala, como se houvesse uma comunicação transparente, sem distância entre intenção e gesto. Esse intervalo, porém, se apresenta aqui e ali e é o próprio da presença do analista fazê-lo aparecer. Neste caso, entre os dois, surge um dizer que ainda não está dito. Era um não dito que agora, no entanto, se decanta ou se deposita, como um quase dito, um fragmento de memória, por exemplo, entre o dito e o dizer. Isso é o nosso material de análise.
O que não se diz, aqui, não é puramente negativo (esse seria o caminho intuitivo: quando não dizemos alguma coisa, ela simplesmente não é, não é o que ocorre em uma análise).
Desde o texto de Freud sobre a negação, considera-se que se dissemos que não é a mãe, a mãe já está convocada, em cena. Para nós, psicanalistas, não há “não” que seja puro não. Lacan generaliza, afirmando que por sermos feitos de linguagem é quase impossível instituir uma negatividade pura. Para dizer o que não é, temos que, de algum modo, já dizer alguma coisa dele. Vale lembrar quando o Homem dos Ratos diz a Freud: “se por exemplo, fosse meu pai a sofrer uma desgraça…”. Ele fala como se fosse justamente nada, apenas um exemplo. E Freud intervém dizendo: o exemplo é a coisa. Essa intervenção materializa o “que se diga” no dizer do homem dos ratos sobre seu pai. Um segundo antes era nada, um instante depois já é um dizer que pode ser lido como um desejo inconsciente de morte, entre outras possibilidades.
Assim, em uma análise, tudo o que você disser pode depor contra você. Mas não porque há segredos nos porões, e sim porque, performativamente alguma coisa vem a estar ali. Essa coisa não estava guardada, escondida debaixo do silêncio. A presença de um silêncio específico, em um momento específico, cristaliza, decanta algo novo que estava ofuscado pela articulação até então em curso, pela maneira como o dito recortava um não-dizer.
Retomando mais uma vez o aforismo agora sem a inversão didática:
- Que se diga: esse é o fato de dizer, o ato de dizer; ele parece o sujeito da frase, por ser o que vem primeiro e, de fato, é o mais importante, mas vai ficar ofuscado pelo sujeito da frase, que está no final, o que se ouve. É o que se ouve que age, ofuscando o que se diga.
- O método de ocultamento de o que se ouve é se servir de o que se diz, do dito em questão. É uma operação sobre o dito que oculta o ato de dizer e essa operação é ouvir (que é muito mais que entender, escutar, mas também é isso). Ao depreender um o que se ouve em aquilo que se diz, oculta-se o ato de dizer, oculta-se o que se diga.
- Mas o que diz o que se diga, o ato de dizer? Por um lado, a potência do dizer, potência desejante em si, que é sempre aberta ao novo. A presença dessa potência do dizer, porém, tem outros efeitos além de abertura. Esse ato pode decantar alguma coisa outra que não a coisa ouvida.
- Essa alguma coisa é o não dito que se perdia quando se escutava, quando se queria demais entender alguma coisa. O que faz uma interpretação é colher alguma coisa nova no dizer que não o que se escutou no dito. A interpretação é a extração de um novo dito a partir da abertura do ato de dizer.
Materializa-se um real que é – nos termos de Lacan – sempre “hiância e texto”. No início de uma análise este real é mais texto do que hiância, no final a proporção se inverte, mas é sempre letra e gozo, indissociáveis.
Uma consequência disso é que em uma análise não há ato em um sentido puro, que aliás, nem existe. Apenas o suicídio seria um puro ato. Todo ato é o ato dentro de coordenadas significantes sendo, portanto, sempre ato de um dizer, mesmo que esse dizer esteja sempre em ruptura com o contexto em que se instaura. Desse modo, na análise, para cada dizer uma estrutura ternária se põe em jogo. Uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que eu sou no que eu digo, e outra ainda é o que posso vir a ser no dizer.
Vale retomar o relato descrito por Hilda Doolittle[2] de um momento de sua análise com Freud, tal como proposto por Miquel Bassols e que Nohemí Brown comenta.[3] Hilda manda flores a seu analista no aniversário dele, como sempre mandava, mas não assina o cartão. Freud não deixa o fato passar em branco e responde a ela agradecendo, e assim como ela, não assina a carta. Na sessão seguinte, ela fala como se isso não tivesse importância. No momento em que ela falava com indiferença daquele assunto, Freud bate no divã e diz: “o problema é que sou idoso, você não acredita que valha a pena me amar”. Estamos, infelizmente, deixando de lado todo um mundo de detalhes que compõem a relação entre eles, especialmente a transferência amorosa, e também negativa, de Doolittle para Freud. Seria preciso ler com calma o Tribute to Freud. Ficaremos apenas com as indicações de Bassols e Nohemí.
Vamos assumir que tudo está concentrado em três elementos ou três planos: o plano do dito, o plano do dizer e o plano do que se decanta entre o que se disse e o que se escutou do que se disse. E nessa história há ainda um quarto elemento, o próprio ato do dizer como potência de reconfiguração e recriação de si na fala.
O analista faz alguma coisa – bater no divã – e isso é algo que está na fala, é um dito, mas um dito entre dito e dizer. E, além disso, ele diz: sou velho demais para você. A partir daí, a dimensão da presença do analista vai se localizar não no que se escutou do que ele disse, mas no que se depositou entre os dois.
O primeiro plano, o mais evidente, que é o da transferência amorosa, do sujeito suposto saber, localiza de um lado, um pai – Freud –, e do outro, Hilda, sempre muito amorosa com aquele senhor. Freud, no entanto, aponta que o jogo entra no termo da mentira. Bassols destaca: ela está deitada e mentindo, lying, no sentindo da ambiguidade do inglês. Isso, porém, traz outro plano para o jogo: ela estava deitada, não apenas em uma transferência amorosa com o pai, mas, também, em uma transferência erótica com aquele que seria seu analista, se oferecendo como objeto na cama para ele. Então, essa é a mentira, ou o outro plano, que aparece na interpretação. Uma interpretação possível seria dizer: “você está aí, meio indiferente e tranquila e esqueceu de mim, mas esqueceu de mim porque você tem uma repulsa por seu desejo amoroso por um velho como eu”. Isso envolve uma espécie de negatividade estranha, porque não equivale a dizer “na verdade, lá no fundo, você tem desejos eróticos por mim”. Isso já faria parte de um segundo plano.
O segundo plano é o da interpretação. O plano de uma interpretação que traz algo de pulsional, não sendo apenas amor, mas, também, desejo. Só que neste plano, Freud aponta para o desejo articulado com a repulsa – um clássico na histeria. Um jogo de repulsa que evidencia o jogo de desejo.
No terceiro plano, Freud bate no divã, e como disse Jacques-Alain Miller, há algo “a mais” na batida, como se o analista estivesse produzindo uma ressonância daquilo que vai além de dizer apenas: “há um desejo erótico por mim”. Seria, por exemplo, como dizer “há um desejo erótico por mim, e mesmo que você esteja assustada comigo morrendo, eu [bate na mesa] estou aqui”.
É importante destacar que não basta traumatizar para entrarmos nesse plano. Quando Freud faz essa intervenção, ela só pode acontecer porque ele está no lugar de objeto que a transferência lhe designa: o lugar do senhor adorável e do senhor mortificado, que pode ser desejado eroticamente de forma inconsciente porque não representa nenhum risco. Então, é desse lugar, com tudo isso em jogo, que Freud bate no divã. E, talvez, seja importante bater no divã, não só porque o divã é o lugar da cama, mas porque isso marca a sua presença. Sem contar com o fato de que ele faz isso na hora exata em que quer se mostrar mais vivo e não velho e acabado.
Essa dimensão da presença do analista atravessando a dimensão “dito e dizer” da transferência e da fantasia, é muito importante. Poderíamos pensar que isso “foi um ato analítico” ou, pior, que o analista “fez um ato” porque transgrediu de alguma maneira. Bater no divã, gritar, ou fazer alguma coisa para sair do setting, nada disso, porém é garantia de que o analista se apresente como vivo, ou em outros termos, como o desejo do analista. A presença do analista, como função, como desejo do analista, se encarna quando um analista aceita se submeter aos significantes do analisante, bancando ser o objeto desse analisante, para poder, aí sim, na hora H, se tudo der certo, se apresentar como real.
Marcus André Vieira[4]
[1] Lacan, Jacques O aturdito In Outros Escritos Jorge Zahar Editor Rio de Janeiro Ed 2003 pg 449, no original: Qu’on disse reste oublié derière ce qui se dit dans ce qui s’entend”.
[2] Hilda Doolittle Tribute to Freud New Directions Publishing, 1984
[3] Cf. Bassols, M. The paradoxes of transference, disponível em
https://static1.squarespace.com/static/5d52d51fc078720001362276/t/616585eed2697c31683c7d27/1634043377909/20140215+Bassols+Transference+New+York.pdf cf. Brown, N. Intervenção no Seminário Clínico da EBP-Rio (inédito).
[4] Este texto reproduz fragmentos escolhidos da participação do autor na discussão dos encontros do Seminário Clínico da Seção Rio em 2019 sobre a Presença do analista, coordenado por Marcus André Vieira e Romildo do Rêgo Barros, que contou com a participação de Nohemi Brown como convidada.
O analista, o real e a época – notas em progresso
“Cada época tem seu fascismo e a isso se chega de muitos modos, não necessariamente com o terror da intimidação policial, mas também negando ou distorcendo informações, corrompendo a justiça, paralisando a educação, divulgando de muitas maneiras sutis a saudade de um mundo no qual a ordem reinava soberana, e a segurança dos poucos privilegiados se nutria do trabalho e do silêncio forçado da maioria”[2] (Primo Levi).
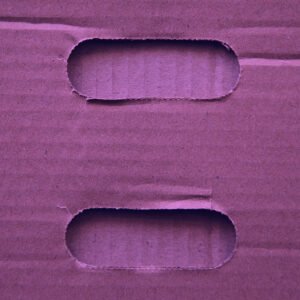 I. Testemunho
I. Testemunho
Por que ao propor o procedimento do passe, Lacan elege o testemunho como modalidade de transmissão da passagem de analisante a analista? Tal eleição teria alguma relação com os testemunhos de sobreviventes que naquele momento, mais que no período imediatamente posterior ao final da guerra, circulavam na cena europeia? Um dado digno de nota, que não passou despercebido em minha pesquisa nos arquivos do Centro di Studi Primo Levi, é que, coincidência ou não, no contexto dos testemunhos de sobreviventes dos campos de concentração nazistas aquele que transmite a outros o testemunho de um sobrevivente é chamado de “passador” [3]. Passador era também o termo utilizado para se designar as pessoas que passavam judeus das zonas ocupadas para zonas livres durante a guerra.
Em conferência proferida por ocasião da abertura da XXII Jornada da EBP-MG, Christiane Alberti enfatiza que Lacan teve muito em conta o laço social e as suas transformações, ao ponto de registrá-lo, em sua teoria, como um real que devemos levar em consideração[4], evocando, na esteira do texto da Proposição de 9 de outubro de 1967, o campo de concentração e os testemunhos dos sobreviventes como os fatos históricos tributários da integração do real à sua teoria. Tal eleição não parece desarticulada do ponto trazido à luz por Clotilde Leguil, ao afirmar que ademais atestar o surgimento do inconsciente, o termo “testemunha” dá conta da função da presença do analista como como testemunha do que se perde, como presença articulada a uma perda[5].
Não me parece irrelevante que no texto da Proposição[6], o campo de concentração apareça como um dos pontos de fuga em perspectiva do nó que ata a psicanálise em extensão à psicanálise em intensão. O campo e concentração é tomado no texto da proposição sobre o psicanalista da Escola como facticidade real, e ao lado das consequências do remanejamento dos grupos sociais pela ciência, gatilho para uma ampliação cada vez mais dura dos processos de segregação. É o que vemos, hoje. Trazer o campo de concentração como facticidade real e o nazismo como um reagente precursor[7], indica uma fratura, um antes e um depois na história do século vinte. Uma fratura também naquilo que concerne à sociedade psicanalítica, textualmente explicitado em ambas as versões da Proposição, e de modo contundente na primeira versão[8]. O que não nos deixa desviar da questão sobre quais seriam os três pontos de fuga que atariam a psicanálise em extensão à psicanálise em intensão, hoje. Questão atinente tanto ao destino das instituições fundadas sobre o modelo do exército e da Igreja, quanto à presença do analista nos campos clínico e político.
II. O analista, a Escola e a época
Alguns significantes me chamam a atenção em “Ponto de Basta”[9], aula de 24 de junho de 2017 proferida por Jacques-Alain Miller no contexto da penúltima eleição presidencial, e da ascensão da extrema direita na França: se engajar, escolher, discernir, perceber, saborear, examinar, provar. O que é do registro da escolha é também do registro do gosto. A heresia, no que concerne ao campo da escolha, ancora-se profundamente na língua, diria até mesmo que sobretudo na língua, em sua singularidade desconcertante. As escolhas não devem ser pensadas unicamente no campo das idealidades, elas estão enraizadas no corpo, no gozo do corpo, no sinthoma, por isso o analista não é um indiferente. O desejo do analista não é um desejo de nada. É um desejo pautado em uma ética, inclui uma política, na própria posição a que faz jus.
Vejamos o comentário de Lacan destacado por Miller à propósito de Freud, em “A direção do tratamento” – “Quem, tão intrepidamente quanto esse clinico apegado ao terra-a-terra do sofrimento, interrogou a vida em seu sentido, e não para dizer que ela não o tem – maneira cômoda de lavar as mãos, mas para dizer que tem apenas um, onde o desejo é carregado pela morte”[10] (uma resposta heideggeriana de Lacan). Nenhum niilismo aqui. Miller se declara impactado pela expressão “clinico apegado ao terra-a-terra do sofrimento”, a partir da qual retoma os tempos da existência de uma Escola, com as suas escanções e momentos cruciais, mas sobretudo sobre a distinção entre a Escola como sujeito e a Escola como instituição, tema medular em Teoria de Turim[11].
A instituição não é o mesmo que a Escola-sujeito. É preciso “estar em condições de produzir um ato como Escola-sujeito”[12]. O ponto nodal aqui é o ato. Não há Escola-sujeito sem ato. Ela somente tem existência como um efeito de um ato.
No mesmo texto já citado por Miller, Lacan profere – “que antes renuncie a isso quem não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época”. A época é dotada de subjetividade, a subjetividade de uma época é o que a anima, a sua mentalidade, o que confere a ela um horizonte e um limite que, seguindo Miller “coage os pensamentos” ao mesmo tempo em que “designa a sua coerência”. Não se refere aqui aos seus atributos, a isso que é palpável e se pode nomear ou classificar no plano individual. Não se refere ao que seriam os atributos “individuais” de uma época, deslocando inclusive o binômio “individual – coletivo”: A subjetividade é transindividual. O que Lacan quis dizer com isso, em seu Relatório de Roma? Ele se refere ao “discurso concreto” como sendo o campo da realidade transindividual do sujeito. O ponto nodal aqui é o discurso como categoria que extrapola o binômio individual – coletivo. O transindividual parece operar uma torção ou uma dobra, ou constituir-se como litoral. Caberá pensar esse conceito a partir das proposições topológicas de Lacan, que nos reenviam ao plano da extimidade.
O exemplo memorável trazido por Miller nesse texto é o dos três prisioneiros tomados como indivíduos ligados, e mesmo enganchados uns aos outros de modo a formar uma subjetividade, tanto no sentido de horizonte, quanto de limite, na medida em que a subjetividade é prisioneira da época, de seu Zeitgeist. Lacan o articula à dialética em sua acepção hegeliana, o que se esclarece na posição do analista como eixo de tantas vidas na medida em que está advertido, que sabe da dialética que o compromete com essas vidas num movimento simbólico. Também uma Escola, na qual sujeitos estão engajados, tem um caráter transindividual, e me parece, tomando a sério e esse ponto, que possamos estender tais proposições aos seus dispositivos, sobretudo, ao dispositivo do Passe. O passe de uma Escola não é o Passe-Instituição. Só há passe em ato, e no horizonte de uma Escola-sujeito.
III. Se “o coletivo é o sujeito do individual”, em que consiste um cálculo coletivo?
O que leva Lacan a afirmar que o grupo e a massa não seriam de um registo diferente daquele do sujeito? E ademais, já na última nota de rodapé de “O tempo lógico e a asserção da certeza antecipada”, remetendo o leitor ao primeiro parágrafo de Psicologia das massas e análise do eu, o que o leva a auferir que “o coletivo não é nada senão o sujeito do individual”? [13]. Lacan faz a ressalva de que a objetivação temporal presente no sofisma, ponto nodal do que se produz como certeza antecipada, é mais difícil de conceber à medida que a coletividade aumenta, “parecendo criar obstáculo a uma lógica coletiva com que se possa complementar a lógica clássica”[14].
Note-se que a questão nos reenvia às premissas da lógica clássica, das premissas à conclusão como valor de verdade, como bases sobre as quais Lacan demonstra, nesse texto, a asserção subjetiva antecipatória: “1º) Um homem sabe o que não é um homem; 2º) Os homens se reconhecem entre si sendo homens; 3º) Eu afirmo ser homem, por medo de ser convencido pelos homens de não ser homem. Movimento que fornece a forma lógica de toda assimilação “humana”, precisamente na medida em que ela se coloca como assimiladora de uma barbárie…”[15]
Ana Lucia Lutterbach[16] ressalta que nesse texto de 1945, Lacan se refere à subjetividade de sua época como movimento simbólico, uma referência ao inconsciente estruturado como linguagem e ao desejo como desejo do Outro. Outro que traz em si a história e os traços fundamentais da civilização. Mais tarde, a partir do Seminário 17 e até o fim de seu ensino, Lacan se refere não só à dialética do desejo, à história, como também às implicações do gozo no laço social. Tema amplamente desenvolvido por Éric Lautent em O avesso da biopolítica, a partir das “lógicas do acontecimento de corpo”[17] e das suas formulações sobre “O falasser político”[18].
Como pensar essa assertiva nesses dois momentos do ensino de Lacan? O que os aproxima e o que os diferencia, no que concerne às torções entre o coletivo, o individual, o subjetivo e o transindividual? Me parece muitíssimo fecundo tomar tais indicações como diretrizes para uma leitura dos laços entre a clínica, a política e o campo social, nesse tempo que é o nosso.
Nessa perspectiva, a das implicações do gozo no laço social, trago ao debate uma passagem de Lacan no Seminário 16, de um Outro ao outro, em que as vicissitudes do laço entre o Outro e o gozo são tomados não na perspectiva da fantasia, mas naquela do traumatismo em sua vertente real, o que, me parece prevalecer hoje, em detrimento do trauma em suas coordenadas simbólicas. Tal perspectiva se articula com a facticidade real proposta por Lacan na Proposição de 1967, indicando que a lógica do campo de concentração, onde quer que ela esteja, desembocará no que Lacan aponta neste seminário: em situações-limite em que gozo e corpo se separam[19].
IV. Traumatismo e lalingua: assuntos de política
A linguagem, cujas leis podemos estudar, veicula em sua estrutura o laço social, ao passo que com lalingua temos uma camada subterrânea passando por debaixo da norma social, e a dimensão fônica da linguagem, fonte dos mal entendidos infantis, das significações investidas de libido. Se ao nível da linguagem encontramos o significante articulado, no âmbito de lalingua temos o S1, o significante sozinho, imantado de substância gozante[20].
Nos campos de extermínio a incomunicabilidade levava rapidamente à morte. O murmúrio, o balbucio, o urro, rompiam a densa barreira do mutismo, tal como Primo Levi narrou em A trégua – nos dias que se seguiram à chegada do exército russo no Campo de Buna-Monowitz – a propósito de Hurbinek, nome atribuído a uma criança provavelmente nascida no Lager, a partir dos sons inarticulados que emitia. Não sabia falar. Já os seus olhos dardejavam, terrivelmente vivos, cheios de vontade de romper a tumba do mutismo [21]. A necessidade da palavra… comprimia seu olhar com uma urgência explosiva: era ao mesmo tempo um olhar selvagem e humano…. carregado de força e de tormento[22]. Matisklo, que se aproximava a uma palavra articulada, foi o único rudimento de palavra pronunciado ao longo de sua breve existência naqueles dias de convivência entre os prisioneiros recém liberados nas enfermarias do Lager.
No Seminário 16, de um Outro ao outro, Lacan postula que em situações-limite gozo e corpo se separam. Jacques-Alain Miller enfatiza que é essa separação entre o gozo e o corpo que faz com que o gozo seja, antes, do Outro. Ele diz: sabemos dos traumatismos devidos ao fato de um Outro ter forçado ou imposto seu gozo ao nosso corpo. Esse regime de violação é certamente o que há de mais traumático. Somos forçados aqui, a colocar entre aspas a palavra fantasia e conceder crédito a esse traumatismo, e em sua estrutura, separar o corpo e o gozo, quando é o gozo do Outro que se impõe. O corpo se esvazia de gozo. Num caso temos as vicissitudes do trauma, no outro o regime de violação, o aniquilamento, as situações em que gozo e corpo se separam. Ao que tudo indica, Matisklo de algum modo reconectou, naquele breve batimento de uma vida, gozo e corpo, como testemunharam os olhos de Hurbinek.
V. Racismo, segregações
Ao ser interrogado (em “Televisão”) de onde viria sua segurança em preconizar uma nova escalada do racismo justo naquele momento (estamos em 1973) em que imperava uma atmosfera de otimismo diante da promessa de integração das nações por meio dos mercados comuns – Lacan dirá: “No desatino do gozo – só há o Outro para situá-lo – mas na medida em que estamos separados dele”[23].
Na esteira das questões atinentes à segregação, vale interrogar: 1) Se a segregação horizontal e “ramificada”[24], na escala e magnitude que vemos hoje, seria uma derivação da “segregação estrutural”[25], aquela inerente à constituição o sujeito e à ordem simbólica, ou responderia a uma lógica diferente; 2) Se a ordem simbólica se funda ao deixar algo fora dela, a ser simbolizado no interior, como ausente – quais seriam as consequências para o laço social, da precarização desta operação, ou seja, da generalização, em larga escala na civilização, dos impasses quanto a efetivação desta operação? 3) O que isto nos esclarece sobre a chamada ‘cultura do cancelamento’ e a generalização do ódio que lhe é tributária?
Chamam a atenção, sobretudo na última década, as proporções tomadas pelos linchamentos virtuais e a manipulação da opinião pública pelas as fake news, o que no Brasil vem incitando a truculência e dogmatismo crescentes no âmbito da cena política. Tais fenômenos, não estão desarticulados, e mais que isso, parecem manifestações contemporâneas daquilo que Lacan aponta sob a égide de uma segregação ramificada, reforçada, que se sobrepõe em todos os graus, não fazendo senão multiplicar barreiras. Talvez como um dos efeitos do que apontava já em 1967, mas desta vez sob as injunções da biopolítica, da tecnologia e consumo de massas, cujas incidências vão além da queda do falocentrismo. O mundo regido pela ordem simbólica, em que cada coisa estava em seu lugar, aferrolhada pelo patriarcado, assegurada pelas leis enganchadas ao Nome-do-Pai, ponto de partida de Lacan, caminha, no segundo tempo de seu ensino, rumo a uma direção oposta: aquela do desmantelamento metódico, constante e feroz da pseudo harmonia da ordem simbólica.
Os aparelhos tecnológicos (celulares, tablets e similares) parecem funcionar, hoje, como extensões do próprio corpo, ao ponto de se acessar por meio de um único e mesmo dispositivo crushes, nudes, o relógio, as redes socias, e… o analista.
Com a prevalência dos imperativos do consumo, o ideal democrático parece se deslocar, pois já não se funda na igualdade como ideal ou princípio; mas no direito ao gozo como finalidade que se quer garantir. Ou seja, é em nome do direito ao gozo que muitas vezes se apela à igualdade. Assim, em nome do gozo, as democracias liberais de massas consumidoras incorrem no risco de engendrar, paradoxalmente, uma espécie de autoritarismo às avessas: a soberania popular cedendo seu lugar à soberania do consumidor, o que desemboca não num consentimento à multiplicidade dos gozos, mas no rechaço à diferença.
É nesse contexto, que, para conter ou corrigir os excessos da pulsão, incorre-se nos dogmatismos, ou apela-se a um deus restaurador da ordem e/ou aos programas e ações políticas de vocação totalitária. Vide o atual avanço dos nacionalismos, não mais apoiados em ideias ou em utopias, mas em slogans legalistas e messiânicos. Tendo-se chegado a este ponto, não seria demais afirmar que o declínio das sociedades patriarcais em sociedades de massas consumidoras tenha uma incidência sobre a crise das democracias representativas.
VI. Extimidade
Desde a primeira vez que li as duas versões da Proposição, me perguntava o que uma menção aos campos de concentração nazistas estaria fazendo em um texto que pretendia interrogar a formação do analista e as bases das instituições analíticas.
Me ocorria que tais menções se justificariam por certa porosidade da instituição analítica às questões e impasses de seu tempo e, mais do que isso, ao modo de Lacan de pensar topologicamente a instituição analítica: o que pareceria à primeira vista localizar-se numa relação de exterioridade ao campo da prática estritamente analítica, encontrar-se-ia, ao mesmo tempo, em seu mais “íntimo”, em seu “interior”.
É importante observar – e nisso reside toda a sutileza da questão – que o problema não parece estar, propriamente, numa relação de causalidade direta entre a segregação e a violência, ou entre a segregação e o mal radical dos qual nos fala Hannah Arendt, por exemplo. A segregação é consubstancial à operação simbólica, na medida em que segrega-se o que resiste a integrar a própria rede de referências e significações; segrega-se o gozo outro, deslocado, inassimilável, mas segrega-se, sobretudo, a partir de um não saber fundamental sobre o gozo. O gozo maligno em jogo no discurso racista se nutre do desconhecimento da lógica que o constitui: seu crime fundador não seria tanto o assassinato do Pai, “mas a vontade de aniquilar aquele que encarna o gozo que eu rejeito” [26], argumenta Laurent, em Racismo 2.0.
A questão central para Lacan no texto de 1967 sobre a formação do psicanalista, é que tais formas de universalização, recaindo numa espécie de homogeneização, acabariam por solapar o que estaria em jogo na segregação como fenômeno de estrutura, camuflando a lógica sobre a qual o fenômeno de estrutura se funda, e com a qual só se tem a chance de operar se não estiver totalmente subsumida ou encoberta pelo discurso do Mestre, por bandeiras ideológicas, por uma rejeição absoluta, ou por soluções homogeneizantes. Ademais, não é incomum atribuir-se como causa da segregação de estrutura, a suposta vontade caprichosa de um Outro mau, de um Deus maligno e obscuro. Foi precisamente no horizonte dessas reflexões que Lacan evocou, nos anos sessenta, e mais precisamente, no Seminário 11, o advento do nazismo[27]. O que significa o sacrifício sobre o qual Lacan discorre? O que corre nas entrelinhas do ato sacrificial, e por que ele seria tomado de fascínio? Lacan esclarece que, no objeto de nossos desejos, tentamos encontrar o testemunho da presença do desejo desse Outro, que ele chama de “Deus obscuro”. Esse seria o ponto cego, medusante e pleno de fascínio, que poderá cercar a dimensão do sacrifício, em nome e por causa do Outro. É em relação a este ponto cego e paralisante que a ignorância, a indiferença, ou o desvio do olhar são as respostas humanas, demasiadamente humanas.
Para o psicanalista, Lacan propõe “a abertura de olhos” que uma análise poderá permitir, diante do encontro de uma posição-limite, consubstancial às intrincadas relações entre o desejo, o objeto, o gozo e o Outro. Cabendo aqui uma ressalva: a segregação inerente à operação simbólica não é equivalente e nem mesmo similar à segregação que se descortina e é colocada em marcha com o advento do nazismo e da máquina concentracionária, fundadas na vontade arbitrária e no gozo mortífero de aniquilar o semelhante. Da segregação à serviço do aniquilamento. Quando o que vigora é a lógica concentracionária, indivíduos e populações inteiras, às expensas das ações, da vontade, ou do desejo de cada um em sua singularidade, são destituídos de sua condição de cidadãos e uma vez reduzidos brutalmente à condição de dejetos, ver-se-ão capturados e lançados numa situação aniquiladora, sem saída, monstruosa. Aqui não estamos diante dos fenômenos de segregação, mas do aniquilamento. De modo que não seria pertinente, nesse contexto, confundir esses diferentes registros da segregação, imputando a culpa da segregação atroz operada por uma política de extermínio, a cada um, individualmente. Ao invés de soluções simplistas ou das malfadadas inversões da culpa, mais vale tentar cernir as consequências das diferentes formas e manifestações da segregação, e entender como e porque elas conduziriam inevitavelmente a uma obstrução dos usos da palavra, a uma inércia e desconhecimento cada vez mais amplos daquilo que as sustenta e mantém, advertidos que nem a boa vontade, nem a simples denúncia, seriam capazes de substituí-las ou de minimizar os seus estragos.
VII. Democracia
O que está acontecendo com as democracias, hoje?[28] Que tipo de mutações estão em curso? É notório que os pilares da democracia, tal como praticada no século vinte, encontram-se fortemente abalados. Observa-se pelos quatro cantos do planeta a ascensão de representantes da extrema direita se elegerem democraticamente. Há certamente movimentos de cunho neofascista, que se nutrem das fixações residuais e não ultrapassadas dos grandes conflitos mundiais do século XX. Mas diferentemente dos movimentos fascistas do século passado, há nas manifestações obscurantistas deste início de século mais diferenças que pontos em comum, dificultando a sua leitura e interpretação, o que levou o cientista político Enzo Traverso a nomear esse conjunto de movimentos de “pós-fascistas”[29]: seu conteúdo ideológico é flutuante, instável e frequentemente contraditório, podendo abarcar ideias e crenças francamente antinômicos. Em lugar das diferenças e tensionamentos ideológicos, ganham terreno polarizações de todos os tipos, intensificando o “nós contra eles”, a partir da identidade personificada por um líder autoritário. No caso do Brasil, o incremento dos apelos reacionários ao modo de uma onda ultraconservadora se alastra no vácuo de uma crise da política representativa e de uma perda de confiança nas instituições.
Sabemos que as sociedades democráticas não são monolíticas e que é preciso manter certas condições ‘de temperatura e pressão’ para que não coloquemos a democracia em risco. Isso não quer dizer que não existam brechas e paradoxos. Um desses paradoxos, formulado por Claude Lefort[30], reside no fato de que o lugar simbolicamente vazio do poder não poderá ser apropriado ou encarnado por alguém. Sob esse paradoxo vive e respira o estado democrático de direito, que estará em perigo todas as vezes que esse lugar vazio se veja obturado ou confundido com quem detêm a autoridade. Foi o caso de Hitler, Mussolini e Stalin, e de tantos outros ditadores que floresceram no século XX. Isso poderá acontecer também quando se denegam as divisões internas aos poderes, resultando em uma indiferenciação das instâncias que regem politicamente a sociedade. Ou ainda, em situações em que o poder deixa de se constituir como um lugar simbolicamente vazio em nome da qual se governa, para se apresentar como realmente vazio, situação em que os governantes passam a ser percebidos como elementos de facções a serviço de um grupo de interesses, vendo sua legitimidade sucumbir em todas as extensões do tecido social, até que, no limite, já não se sustente uma sociedade propriamente civil. Antes de sua total corrosão, a sociedade se vê polarizada entre a defesa de um estado permissivo e rendido a grupos de interesse e o brado por um estado consubstancial à sociedade, que falando em seu nome venha a encarnar o corpo social de forma homogênea e sem brechas. Com essa polarização, nutre-se o ódio à diferença, motor da intolerância e da segregação. O laço social se fragiliza, chegando, às vezes, à ruptura.
VIII. A Escola como coletivo
Em “Teoria de Turim”[31], Miller enuncia o paradoxo da Escola nos seguintes termos: como entender o fato de que no momento que Lacan institui uma formação coletiva, suas primeiras palavras colocam em primeiro plano a solidão subjetiva. Essa formação coletiva “não pretende fazer desaparecer a solidão subjetiva, mas que pelo contrário se funda nela, a manifesta, e a revela”. Advertido de que a interpretação tem sempre um efeito desagregador, e sendo cada um separado do significante mestre, remetido à sua solidão, como essa comunidade se sustentaria? A proposição “A Escola é sujeito” e seu desdobramento, “A Escola é sujeito suposto saber”, aparecem como uma espécie de solução para o paradoxo entre a solidão do analista e a Escola como conjunto “antitotalitário” e inconsistente advindo dessa soma de solidões: “constituir esta comunidade é fazer da própria Escola um sujeito barrado”. A Escola precisa de estatutos, mas, sobretudo, de interpretações dela mesma como sujeito. Trata-se de que a determinação significante da Escola, suas organizações simbólicas complexas, suas publicações, tenham como efeito instituir a Escola como sujeito suposto saber”.
Em “Questão de Escola: proposta sobre a garantia” (2017), o problema se recoloca tendo como horizonte as mutações do Discurso do Mestre. A questão já não se enuncia unicamente em termos de uma “Escola sujeito”, como na “Teoria de Turim”. Miller ressalta a sua condição de “ser ambíguo”, uma “Escola Morcego”. O que está em questão é o embuste de pretender que o discurso analítico se funde como um discurso que não tomaria seus efeitos a partir do semblante. Donde o paradoxo: não apenas o do laço entre a solidão do analista e a Escola, mas aquele do discurso analítico como um embuste que toca o real: o discurso analítico não só dissolve os semblantes dos outros discursos, como também denuncia o próprio. O resultado dessa operação, ainda que tenha efeito de semblante, é desnudar o real. Como consequência, seu suporte de semblante, que é o sujeito suposto saber, se autodestrói. Se na “Teoria de Turim”, a Escola como sujeito suposto saber aparece como uma solução, em “Proposta sobre a garantia”[32] o sujeito suposto saber, como suporte de semblante do discurso analítico se autodestrói. Estaríamos diante de uma nova mutação, dessa vez, em relação aos destinos do sujeito suposto saber como suporte de semblante do discurso analítico? Convido-lhes a elaborar e extrair as consequências desta Proposta sobre a garantia, de Jacques-Alain Miller, a fim de fazermos uma releitura dos pontos de fuga da Proposição sobre o psicanalista da Escola, hoje, passados cinquenta e cinco anos de sua proclamação.
Lucíola de Freitas Macêdo
[1] Texto apresentado no dia 8/8/22 em atividade em conexão com o XXIV EBCF organizada pelo Conselho e pela Diretoria da Seção Rio.
[2] Levi, P. A assimetria e a vida. São Paulo: Ed. UNESP, 2016, p.56
[3] Mesnard, P. Primo Levi: uma vita per immagini. Venecia, Marsilio Editori, 2008, p.11, 102 e 144.
[4] Alberti, C. Há apenas isso: o laço social. Curinga, n.47, 2019, p.19.
[5] Em “Presença do psicanalista com testemunha da perda”. Boletim Punctum Extra. http://encontrobrasileiroebp2022.com.br/presenca-do-psicanalista-como-testemunha-da-perda/
[6] Lacan, J. Proposição de 9 de outubro de 1967. Outros Escritos, Rio de Janeiro, JZE, p.261-263.
[7] Lacan, J. Anexos. Outros Escritos, Rio de Janeiro, JZE, p.583.
[8] Lacan, J. Anexos. Outros Escritos, Rio de Janeiro, JZE, p. 583-584.
[9] Miller, J.-A. Ponto de basta. Opção Lacaniana, n.79, julho 2018, p.23-38.
[10] Lacan apud Miller. Ponto de basta, p.31.
[11] Miller, J.-A. Teoria de Turim. Opção Lacaniana on-line n.21, Nov.2016. Disponível em: http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_21/teoria_de_turim.pdf.
[12] Miller, J.-A. Ponto de basta, p.32.
[13] Lacan, J. O tempo lógico. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p.213.
[14] Idem.
[15] Idem.
[16] Cf. em https://jornadasebprioicprj.com.br/2022/local/.
[17] Laurent, É. O avesso na biopolítica. RJ, Contra Capa, 2016, p.61-64.
[18] Idem, p.201-219.
[19] Lacan, J. O seminário, livro 16: de um Outro ao outro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008, p.266.
[20] Miller, J.-A. A psicose ordinária, a convenção de Antibes, p. 286.
[21] Levi, P. A trégua. São Paulo: Cia das Letras, 2010, p.19.
[22] Idem, P.18-19.
[23] Lacan, J. Televisão. Outros Escritos, Rio de Janeiro, JZE, p.533.
[24] Lacan, J. Nota sobre o Pai. In: Opção lacaniana. São Paulo: Edições Eolia, n.71, dezembro 2013, p.7.
[25] Bassols, M. O bárbaro. Transtornos de linguagem e segregação. In. Opção lacaniana online nova série, ano 9, março/julho 2018, n. 25 e 26.
[26] LAURENT, Eric. Le racisme 2.0. In: Lacan Quotidien, n.371, 26 de janeiro de 2014. Disponível em: http://www.lacanquotidien.fr/blog/wp-content/uploads/2014/01/LQ-371.pdf.
[27] LACAN, Jacques (1964). O seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 1993, p.259.
[28] Para uma análise das questões atinentes a este tema no contexto do Brasil atual, recomendo: Bignotto,N., Starling, H. & Lago, M. Linguagem da destruição, a democracia brasileira em crise. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.
[29] Traverso, E. les nouveaux visages du fascisme. Paris: Textuel, 2107, p.13.
[30] Lefort, C. A invenção democrática: os limites da dominação totalitária. São Paulo: Brasiliense, 1983, p.75-77.
[31] Miller, J.-A. Teoria de Turim. Opção Lacaniana on-line n.21, nov.2016.
[32] Miller, J.-A. Questão de Escola: proposta sobre a garantia. Opção lacaniana nova série, ano 8, n.23, julho 2017.
Editorial – PUNCTUM 4
 Abrimos essa edição do Punctum com o vídeo de Bernardino Horne que é uma aula primorosa sobre a presença do analista sob a ótica do último ensino de Lacan. Ele explora em detalhes as consequências da “coisa incrível que é haver o Um” com os mistérios que estão implicados nessa mudança de perspectiva: o mistério do corpo falante, da união do significante com o corpo biológico, a existência de um gozo sem significante, para colocar em destaque o plano da presença do analista na relação com o gozo opaco do UM.
Abrimos essa edição do Punctum com o vídeo de Bernardino Horne que é uma aula primorosa sobre a presença do analista sob a ótica do último ensino de Lacan. Ele explora em detalhes as consequências da “coisa incrível que é haver o Um” com os mistérios que estão implicados nessa mudança de perspectiva: o mistério do corpo falante, da união do significante com o corpo biológico, a existência de um gozo sem significante, para colocar em destaque o plano da presença do analista na relação com o gozo opaco do UM.
A série dos textos inéditos começa com uma preciosidade que é o texto de Flávia Cêra “Em estado de emergência”. Ela faz uma homenagem a Clarice Lispector, tomando emprestado o título do seu livro “Para não esquecer” que é usado como um fio que atravessa o texto de ponta a ponta abrindo brechas aqui e ali para falar da memória, do tempo presente, do que repete, do que insiste, do acontecimento, tendo como pano de fundo o estado de emergência tomado como método de uma escrita.
O momento do Encontro se aproxima e os trabalhos avançam a todo vapor. Os textos de orientação que seguem nesse Punctum testemunham a potência do trabalho em andamento. O texto de Lucíola Macêdo, que recebeu como título: “O analista, o real e a época – notas em progresso” foi extraído da sua fala em uma atividade na Seção Rio em 8 de agosto, que articulou o tema do Encontro ao das próximas Jornadas da Seção Rio sobre Lógicas Coletivas nos tempos que correm e vai muito além de algumas notas. É um texto de fôlego que percorre um amplo circuito, atravessando questões da maior urgência, sem recuar diante dos impasses e tensionamentos que fazem parte da problemática da época: racismo, segregação, coletivos, democracia, “assuntos de política” e questões de Escola. E conclui com uma pergunta que serve de provocação para nos relançar ao trabalho.
Marcus André Vieira, em “Os três (mais um) planos da presença do analista”, texto de orientação da maior relevância, desdobra e explora a fundo os diferentes níveis da presença do analista: o da transferência – seja ela amorosa ou negativa – o da interpretação, o “a mais” que se introduz entre um dizer e um dito, e mais ainda…. Vale conferir em uma leitura atenta!
Na rubrica Bibliografia e Ressonâncias trazemos as excelentes leituras que Paola Salinas e Rodrigo Lyra fizeram a partir dos trechos selecionados do ensino de Lacan sobre o sintoma como acontecimento de corpo e a dimensão política implicada aí, sobre os desafios atuais com a experiência do inconsciente, entre outros pontos colocados em destaque por eles. Leitura necessária.
Lembramos também que a cada edição do Punctum novos textos são incluídos na aba Textos de Orientação do site. “Presença do psicanalista como testemunha da perda” de Clotilde Leguil; “O impossível e o laço, o analista e a época”, relatório do eixo 3 apresentado por Margarida Assad; “Tempo, Corte e ato: O acontecimento analista” relatório do cartel responsável pelo eixo 2 apresentado por Maria do Rosário Collier do Rêgo Barrros e dois textos de Romildo do Rêgo Barros: “O Sentido e os seus dejetos” que foi lançado no último Boletim e “Sobre grupos” texto de 2009, que foi citado por Margarida Assad no relatório do eixo 3.
Boa leitura a todos!
Andréa Reis Santos

