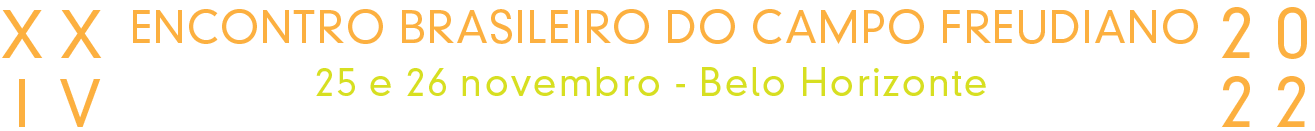A psicanálise presente no mundo!
EBP- 25/11/22
Agradeço às instâncias da EBP por terem me convidado para seu Encontro, cujo tema é de uma atualidade e acuidade clínica, teórica e política.
Agradeço também a Angelina Harari por ter tido a ideia de fazer a junção de minha intervenção com o lançamento de Lacan Redivivus em português, o que é uma notícia maravilhosa!
O ano de 2021 marcou uma importante escansão por ocasião do aniversário dos cento e vinte anos do nascimento de Lacan e dos quarenta anos de sua morte. A Organisation Archives Lacan, a publicação dos volumes Lacan Redivivus e Lacan Hispano realizaram um conceito novo de mídia elevado à altura da Escola Una. De fato, essas novas publicações foram propulsadas no coração da AMP. Elas se mostram, a posteriori, necessárias por inaugurarem novas maneiras de trabalhar no Campo freudiano, a fim de manter vivo e atual o ensino de Lacan. Tal é o desejo de J.-A. Miller, que presidiu ao nascimento desses dois volumes: « não somente expor e explorar o ensino de Lacan, mas também pôr a trabalho o seu ensino sobre outros temas, como o fazemos com o casos clínicos [1] ».
À distância de estudos acadêmicos que incidiriam sobre o ensino de Lacan, trata-se de produções com Lacan, nas quais nos servimos do ensino de Lacan e cujas ressonâncias contemporâneas são mostradas.
Havia uma urgência em marcar um aniversário, o dos 40 anos da morte de Lacan, celebrando o homem Lacan mais do que o psicanalista de renome internacional. Uma urgência de dizer quem era Lacan, o que ele era para aqueles que o frequentaram. E, desde o início, o que nos parecia evidente é que seria um aniversário sem nostalgia, sem pathos. Que faria passar ao público um Lacan íntimo. Íntimo, aqui, rima com a política da psicanálise. Porque Lacan redivivus quer dizer que nossa relação com Lacan não consiste em remoer o passado de um homem, ou um pensamento passado, mas em considerar um Lacan que olha o atual, um Lacan vivo que nos olha e nos desperta.
Com efeito, este volume se abre com o caderninho de sonhos de Lacan. Foi um momento muito intenso. No início, tivemos, por repetidas vezes, hesitações quanto à transcrição: já que o relato de um sonho não tem a coerência de um texto comum. Em seguida, porque, quando o descobrimos, nós nos perguntamos sobre ao que visaria uma tal publicação. Esses sonhos que são narrados por Lacan indicam não somente a maneira como ele estava na tarefa de analisá-los, mas também elementos da vida privada, em um momento de engajamento crucial, de escolhas amorosas, de dilemas amorosos. O homem de desejo, mas também o universo fantasmático que, em cada um, não é compartilhável, expõe-se aqui, sem impudor, por ser justamente essa parte sombria e insólita de gozo contida em cada um. Transcrevê-la, para si, é reconhecê-la como parte de si. A esse respeito, a dificuldade de decifração deve-se também, em parte, ao carácter íntimo desse escrito: ele não é, literalmente, para ser lido, razão pela qual certas palavras são cortadas, apresentam pontos de suspensão, são apenas esboçadas, como se codificadas apenas para si, ao passo que outras apresentam uma grafia que contrasta muito com os manuscritos teóricos de Lacan, muito mais fáceis de ler.
Qual a necessidade de tornar público um texto tão íntimo? Por certo, isso não é sem evocar o fato de que Freud deu a conhecer, divulgou ao público sua descoberta, avançou em seu século, comunicando a análise dos seus próprios sonhos, mas foi naquele tempo da invenção da psicanálise. Aqui, é muito diferente, trata-se de Lacan em análise, analisante e, portanto, ao decidir publicar este caderninho, JAM impulsiona o que é a prática da psicanálise no campo da opinião, no campo social: e o que está em jogo concerne, portanto, à difusão e à transmissão da psicanálise, uma prática que pode levar alguém a ir muito longe na abordagem de seu ser, desprendendo-se dos ideais, do belo, das significações recebidas.
O endereçamento é um ângulo fundamental da publicação, um endereçamento não reservado a especialistas.
É assim que as publicações, nossas Jornadas, nossos fóruns, todas as intervenções que levam ao público questões de ordem clínica podem ter uma incidência na civilização, no campo social.
Com Lacan, trata-se, portanto, de pensar as questões clínicas atuais, como o corpo, a sexuação, o imaginário para, a um só tempo, elucidar, esclarecer os novos sintomas ou os debates da sociedade, se quisermos manter a oferta da psicanálise estando à altura da época, a oferta de uma psicanálise que não esteja com os pés acima do chão. Os psicanalistas sabem até que ponto as formas assumidas pelos sofrimentos de hoje dependem dos discursos que dominam nossa civilização. E a presença dos psicanalistas no debate público pode ser qualificada de política, não para adotar posições partidárias, nem para entrar na política, mas, sim, a cada vez que uma questão de ordem clínica está em jogo ou então que as condições do exercício da psicanálise são ameaçadas. E eu sei que o próprio título do Encontro de vocês é uma evocação de um contexto político agudo, candente, em seu país.
E como qualificar o momento presente? Como caracterizar a subjetividade da época? Eu diria que é um momento em que cada um está voltado para o seu mais-de-gozar falso, cada um voltado para o objeto a ser adquirido no modelo do mercado, em outras palavras, um mundo onde o fazer e o ter prevaleceram sobre o ser. E onde o elemento qualificado como « humus », como diz Lacan, é ele mesmo considerado como equivalente a um objeto qualquer, produto de nossa indústria. É um modo de fazer sentir o espírito do tempo, que quer indivíduos autônomos, isolados, cortados do outro, do Outro. Cada um autodeterminado. Este imperativo de autodeterminação acaba de alcançar, pelo menos na na Europa, as margens da infância, já que se trata de considerar a criança como um cidadão de pleno direito: considero, de minha parte, que isso é um atentado à democracia.
Em um tal contexto, os sujeitos se veem amputados de uma parcela de interioridade, de uma espessura de ser, de onde se poderia enunciar a falta, o mal-estar, o equívoco, por meio dos quais podemos endereçar-nos ao outro, abertura possível para uma transferência possível. Isso é o que muda a distribuição das cartas na maneira como os sujeitos se apresentam à psicanálise.
Precisamos considerar esse dado do discurso moderno, pois ele se infiltra nos tratamentos. O discurso moderno recusa o sintoma e impele à adicção. Precisamos opor à agitação, ao acting, uma outra ação: o ato de fala que permitirá a abertura para uma outra cena, a da conformação de um sintoma com seu núcleo pulsional. Educar, dar o gosto do inconsciente, « comover o inconsciente », como diz Lacan a propósito de Joyce, ou então estreitar o gozo opaco sem passar pelo afeto, segundo a estrutura clínica concernida.
Hoje, no tempo da comunicação generalizada, a linguagem se reduz. O significante é reconduzido ao signo que se crê ler sobre o corpo, e se precipita, se cristaliza uma identificação, ao mesmo tempo em que se reduz o sujeito a seu corpo, a suas roupas, à sua cor de pele, ao seu sexo… Em matéria de sexuação, a tendência é impor uma identidade de gênero que fixe uma resposta antes mesmo que a questão seja desdobrada pelo sujeito, com o tempo lógico necessário para compreender, o tempo necessário para se acostumar com seu ser sexuado. O próprio corpo é reduzido à roupa e introduz-se um forçamento no sentido da identidade sexuada.
É em nome dessa redução do sujeito ao seu corpo que todos são reconduzidos, os racismos que se pretende combater. A psicanálise é uma via que explora um trajeto completamente diferente, onde, ao contrário, aproxima-se um pouco o real do sexo que jaz no coração de seu ser, não sem o imaginário. Nós o aproximamos, mas não sem o outro, pois, como dizia Lacan, « existir não é ser, é depender do outro ».
O mal-estar correlacionado ao sintoma já deu lugar, hoje, à rejeição ou à negação do inconsciente, à medida que o simbólico perde em potência. A utopia não é mais o recurso ao pai, mas a docilidade generalizada, muitas vezes docilidade à burocracia sanitária. Por essa razão, enfatizo voluntariamente este movimento a favor de uma psicanálise presente no mundo: « Em direção ao inconsciente »: em direção ao que JAM havia utilizado a propósito da adolescência: em direção à adolescência. Em direção a para visar a distância necessária, a fim de alojar o lugar do inconsciente: nem ser, nem não ser, mas o não realizado, justo à espera de existir.
Christiane Alberti
Tradução: Vera Avellar Ribeiro
[1] Miller J.-A., in Miller J.-A. & alii, « Conversation entre Buenos Aires et Paris autour de Lacan hispano », La Cause du désir, no 110, março de 2022, p. 13.
Bibliografia e ressonâncias
“’O inconsciente é a política’ provém do que liga e opõe ‘os homens’ – entre aspas – entre eles, ou seja, o inconsciente provém do laço (…) O inconsciente provém do laço social – introduzamos essa glosa – justamente porque a relação sexual não existe”[1].
 Miller, em 2002, fez de improviso uma intervenção no seminário “Os psicanalistas na cidade”[2], em Milão, retomando dias depois em seu curso intitulando-a “Intuições Milanesas”. Retoma Lacan em “A lógica da fantasia”, quando afirma: “não digo a política é o inconsciente, mas simplesmente o inconsciente é a política”. Existe nessa afirmação algo incisivo, que não vale a pena amortecer[3]. Lacan não definiu a política, mas o inconsciente, em uma frase lampeira, trazendo em si um agalma.
Miller, em 2002, fez de improviso uma intervenção no seminário “Os psicanalistas na cidade”[2], em Milão, retomando dias depois em seu curso intitulando-a “Intuições Milanesas”. Retoma Lacan em “A lógica da fantasia”, quando afirma: “não digo a política é o inconsciente, mas simplesmente o inconsciente é a política”. Existe nessa afirmação algo incisivo, que não vale a pena amortecer[3]. Lacan não definiu a política, mas o inconsciente, em uma frase lampeira, trazendo em si um agalma.
No desdobramento da frase, Miller[4] chama atenção para a denegação pronunciada por Lacan, visto que ele diz: – “Eu não digo”, adentrando o “império da denegação”, no qual é possível dizer “tudo, dizendo que não diz”[5]. Para Miller, trata-se de uma dificuldade lacaniana de transformar sua proposição em uma tese, observando que se essa tese tivesse um pai, seria Freud, que remete a política ao inconsciente em textos célebres.
Enquanto na formulação lacaniana “o inconsciente é estruturado como uma linguagem”, a linguagem é definida por Saussure e Jakobson, a definição de política está ausente na tese “o inconsciente é a política”. Por isso, é necessário perguntar pela definição de política presente na frase[6].
A definição do inconsciente pela política tem raízes profundas no ensino de Lacan, “O inconsciente é a política” é um desdobramento de “O inconsciente é o discurso do Outro”. A relação com o Outro, intrínseca ao inconsciente, anima desde o início o ensino de Lacan. “O inconsciente é a política” radicaliza a definição do Witz, do chiste freudiano “como processo social que tem seu reconhecimento e sua satisfação no Outro”[7], que o momento de rir atesta. A formalização que Lacan faz do chiste freudiano, permite articular o sujeito do inconsciente a um Outro, “e qualificar o inconsciente como transindividual”, afirma Miller[8], demostrando que foi possível passar de “o inconsciente é transindividual” para “o inconsciente é político”.
Brousse[9] situa essa questão apontando que a dialética do desejo não é individual, portanto, “na perspectiva analítica a oposição individual/coletivo não é válida, e o desejo que o sujeito visa decifrar é sempre o desejo do Outro”, manobra que passa pelos desfiladeiros do significante.
O inconsciente provém do laço social. Miller[10] comenta que Lacan teria realizado um deslocamento da frase freudiana “a anatomia é o destino” para “o inconsciente é a política”. Lacan[11] explica que a ligação entre os homens e o que os opõe é motivado pela lógica da fantasia. Portanto, “o inconsciente é a política” decorre do que liga e opõe os homens entre eles, ou seja, do laço social, concepção que Lacan matemizará com os discursos.
Contudo, há no ensino de Lacan um ponto de virada, ou de avanço: “o inconsciente provém do laço social justamente porque a relação sexual não existe”, esclarece Miller[12]. Após teorizar que o inconsciente se produz na relação do sujeito com o Outro, Lacan demonstra que o inconsciente se produz na relação com o Outro sexo, encontrando precisamente nesse caminho a ausência da relação sexual e a interposição do objeto a.
Laurent em seu texto “’O Inconsciente é a política’, hoje”[13], adverte que algo ainda mais consistente em relação à nossa atualidade surge quando Lacan, nas lições de maio de 1967, afirma que “o Outro é o corpo”. Assim, ensina que o corpo é feito para inscrever a marca, “o corpo é feito para ser marcado”, o gesto de amor “é sempre, um pouco mais ou menos esse gesto”, o de marcar o corpo[14].
O estatuto do corpo como Outro encontra seu pleno desenvolvimento no ultimíssimo ensino de Lacan. Miller extrai desse estatuto consequências de formação, sinalizando uma orientação, a do desejo de Lacan de substituir o termo inconsciente por falasser. A abordagem do falasser permite, então, reler a formulação “O inconsciente é a política”, na dimensão da inscrição no corpo, a partir do acontecimento de corpo[15].
É preciso demarcar que o acontecimento de corpo não afeta o corpo somente como organismo de um indivíduo, mas o corpo de linguagem. “O corpo falante vem sempre se opor ao corpo do indivíduo. Ele fala e testemunha o discurso como laço social que vem se inscrever no corpo”[16]. Corpo, portanto, mobilizado também nas relações estabelecidas na biopolitica do Estado.
A definição “o inconsciente é a política” inscreve o inconsciente na cidade, não homogênea, com crateras de gozo. O Inconsciente passa a depender da história, crava-se aí as marcas do tempo e, sobretudo, “da discórdia do discurso universal a cada momento da série que nela se cumpre”[17].
“O inconsciente não conhece o tempo, mas a psicanálise sim”[18]. Lacan teve o papel de atualizar Freud, mas, sobretudo, de preparar a psicanálise para os tempos do império do gozo. Miller[19] afirma que “a psicanálise está na política”, ou mesmo faz dessa afirmação uma convocação, a cada momento que eclodem situações de guerra contra a psicanálise. O analista e a presença de um desejo de obter a diferença absoluta, implica na política da psicanálise frente a respostas totalitárias que impedem o falasser de existir em radical singularidade, de se analisar, de dispor de ferramentas e leituras sobre acontecimentos políticos que forjam situações para banir os corpos, matar, silenciar, violentar.
Cristiane Barreto (EBP/AMP)
“O que quer dizer “dizer”? “Dizer” tem algo a ver com o tempo. A ausência de tempo é algo que se sonha, é o que se chama de eternidade, e esse sonho consiste em imaginar que se desperta”[20].
A torção feita por Lacan entre os fios do dizer e do tempo me levou ao tema da urgência subjetiva. Na urgência, a qualidade desse enlaçamento entre dizer e tempo é, a meu ver, mais sensível e daí podemos extrair alguma leitura sobre a presença do analista.
Partamos de uma premissa: a urgência subjetiva é uma urgência no dizer. O subjetivo da urgência é o do efeito sujeito que se produz quando, ao falar para alguém sob transferência, algo além do que é dito também acontece e pode ser lido.
O sujeito da urgência é, portanto, produto de um dizer que se faz presente na experiência de remeter sua fala ao praticante. A ruptura da cadeia significante que produz um corte no tempo, tal como definida por Ricardo Seldes[21], é ruptura que se lê em um dizer e isto não vai sem um certo abalo na experiência do próprio corpo.
A urgência no dizer acontece quando quem fala experimenta a própria palavra de uma maneira que o surpreende ou perturba ou mesmo que gera estranheza. Poderia dizer: é quando ao falar, encontro com um certo desamparo com as próprias palavras.
Por vezes isso é tão sutil quanto uma pausa, uma escanção e nem sempre virá recoberta por um sentido. Por vezes, estes pontos sutis, constituem as oportunidades para o praticante fazer presença, isto é, presentificando com um ato que ali há algo que ressoa um real. Não seria essa uma perspectiva para conjecturar sobre a presença do analista? A presença do analista como presença do dizer.
Estamos falando de uma presença como índice de que ali, onde a urgência indica uma mínima falência dos suportes simbólicos e imaginários do Outro, há uma resposta possível pela via de um novo arranjo com o real que não se fará sem a passagem pelo analista como caixa de ressonância.
Ao fim, me parece que a urgência levada à dignidade do dizer sob transferência, se não tem efeito de despertar como diz Lacan na citação, ao menos é uma chance de fazer ressoar algo que não seja o eterno desejo de dormir.
Luiz Felipe Monteiro (EBP/AMP)
[1] MILLER, J. – A. “Intuições Milanesas II”. Opção Lacaniana online nova série Ano 2, número 6, novembro 2011.
[2] Em uma conferência em Milão, por ocasião da Fundação da Escola Lacaniana do Campo Freudiano da Itália.
[3] MILLER, J-A. “Intuições Milanesas”. In: Opção Lacaniana online, nova série, ano 2, no 5, jul. 2011. Disponível em: http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_5/Intuições_milanesas.pdf. Acesso em: fev. 2022.
[4] Ibid. p. 3.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Ibid. p. 6.
[8] Ibid. p. 7.
[9] BROUSSE, M-H. O Inconsciente é a política. Escola Brasileira de Psicanálise. São Paulo, 2003. P. 17.
[10] MILLER, J. – A. “Intuições Milanesas II”. Op. Cit. P. 4.
[11] Ibid. (apud).
[12] MILLER, J-A. “Intuições Milanesas II”. In: Opção Lacaniana online nova série, ano 2, no 6, nov. 2011. Disponível em: http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_6/Intuicoes_Milanesas_II.pdf . Acesso em: fev. 2022. P. 5.
[13] LAURENT, É. “O Inconsciente é a política, hoje”. In: Correio Revista da Escola Brasileira de Psicanálise, no 79. São Paulo: set. 2016. P. 87.
[14] Ibid.
[15] Ibid.
[16] LAURENT, É. “O Inconsciente é a política, hoje”. In: Correio Revista da Escola Brasileira de Psicanálise, no 79. São Paulo: set. 2016. P. 89.
[17] MILLER, J-A. “Intuições Milanesas”. Op. Cit. P. 7.
[18] MILLER, J-A. “Enguia”. In: Correio Revista da Escola Brasileira de Psicanálise, no 79. São Paulo: set. 2016. P. 19.
[19] MILLER, J-A. “Intuições Milanesas”. Op. Cit. P. 3.
[20] LACAN, J. Seminário 25, momento de concluir. Aula de 15/11/1977. Inédito
[21] SELDES, R. La urgência dicha. Buenos Aires: Colección Diva, 2019.
Voz e moldura
 A presença do analista como uma presença pressentida me pareceu uma frase muito interessante, pois não se trata de uma presença pressentida no sentido comum do termo, de uma presença sentida como antecipação, algo que se pressente, um pressentimento, mas uma presença um pouco mais sutil; uma presença que se faz presente, se pressente, está aí, não só no silêncio, mas também pelo dizer que se insinua. Inclusive pelo ritmo e intensidade, são interessantes estas duas figuras. Essa seria uma forma de pensar a presença que traz uma nuance ao que se tinha colocado como da ordem do que irrompe.
A presença do analista como uma presença pressentida me pareceu uma frase muito interessante, pois não se trata de uma presença pressentida no sentido comum do termo, de uma presença sentida como antecipação, algo que se pressente, um pressentimento, mas uma presença um pouco mais sutil; uma presença que se faz presente, se pressente, está aí, não só no silêncio, mas também pelo dizer que se insinua. Inclusive pelo ritmo e intensidade, são interessantes estas duas figuras. Essa seria uma forma de pensar a presença que traz uma nuance ao que se tinha colocado como da ordem do que irrompe.
Vejamos um fragmento de caso que ensina sobre certa presença do som e da voz.
Trata-se de uma criança muito pequena, com sérias dificuldades de laço, e nas sessões tudo acontecia em silêncio, ela nem percebia minha presença. O silêncio não marcava minha presença; em algumas ocasiões, eu dizia frases tentando nomear o que ela fazia para introduzir a palavra, mas ela não se interessava pelo que eu dizia, ela só se interessou pelos sons que eu emitia em algum momento como: “uhum”, “ok”, “Uhum, “Ahh”, que eram um pouco entre frases. Foi por esta via que o laço se fez possível com esta criança; ela os recortava e repetia depois fazendo variações, brincando com eles.
O tratamento com esta criança foi longo e teve vários momentos, mas este ponto me pareceu muito interessante e até hoje fica como um caso que me ensinou sobre algo da ordem da voz que não é fala, sentido, significação.
Então podemos pensar a voz como um objeto áfono que do dizer pode fazer falar. Colocar a voz como núcleo do que do dizer faz fala é isolar a voz como um objeto, como um resto. Como diz Lacan no Seminário 16, “do calar-se isola-se a voz, núcleo do que do dizer faz a fala”[ii]. Nesta frase, coloca-se a voz como o núcleo do que do dizer faz falar, mas para localizá-la como núcleo é necessário isolá-la.
Nesse sentido, a presença do analista está no calar-se. Não há descontinuidade entre o que se vê e não se vê. No plano sonoro, fica mais complicado o entre o que se ouve e não se ouve.
A criança vai construindo sua moldura nos jogos que faz. Quando ela recorta a voz e a repete, vai fazendo uma moldura. O importante da moldura é que ela se oferece como configuração imaginária que, de certa forma, prevê ou faz barreira à irrupção do real. É o que estamos chamando de objeto, de unheimliche e, no final das contas, da função ou do efeito do analista como ruptura da moldura. Quando falei, da outra vez, da ironia surrealista, se tratava exatamente disso: nada indica que exista alguma coisa por trás do quadro de Magritte. Pode ser mentira, não tem árvore nenhuma, não tem quintal nenhum, não tem nada. O que tem é um quadro pintado, mas você nunca vai saber.
Não podemos pensar se a moldura sonora não seria a reverberação que essa criança faz quando ela recorta? É uma moldura sonora em que ela brinca com esses sons. Essa reverberação tem a função de moldura, de dizer que não há voz do analista e sim o recorte que ela faz e o jogo que ela faz de reverberação.
Colagens
Por um lado, extrair essa voz em sua estranheza, mas para fazer dela trabalho. É ali que fica a questão com a presença do analista: nesta dimensão pressentida de ritmo e intensidade que permita circunscrever esta estranheza.
Isso não estaria na linha do que Lacan coloca no Seminário 16 como “a captura do próprio analista na exploração do objeto a é exatamente o que constitui o ininterpretável. O ininterpretável na análise é a presença do analista”?[iii]
Parece interessante essa colocação por fazer pensar numa presença que se insinua enquanto sustenta o ininterpretável.
Esse ponto de ininterpretável remete ao ato do analista. Como se produz o “entre” que abre a voz à sua dimensão de estranheza? O silêncio neste fundo de continuidade pode ser uma via, mas o importante é a ideia de uma presença pressentida. A presença entre o audível e o inaudível, que não é exatamente uma voz ouvida ou dita, mas pressentida. Do dizer com isso que se insinua nos restos dos dizeres abandonados e no ruído do que se diz. Se separar da presença vocal do outro dos restos dos dizeres que marcaram uma vida.
Diante da pergunta: o que se faz com o que sobra da voz numa análise? Colagens de dizeres ou gambiarras? Colagem e gambiarra seriam da mesma ordem? Colagem vem de colar, da ideia de composição, é um termo que nas artes plásticas dá a ideia de composição elaborada a partir de texturas variadas ou não, superpostas ou não. David Delruelle, artista plástico belga que faz trabalhos muito interessantes, é bem posterior ao surrealismo, mas segue a ideia de colagens. É um artista que anda nas ruas, mercados, livrarias de segunda mão, à procura de livros e revistas antigos para montar suas colagens. Vale a pena vê-las, pois, apesar de terem elementos discordantes, têm uma certa coerência, o humor, às vezes ironia inclusive nos títulos. Dão uma ideia de que colagem não é só colar arbitrariamente, mas compor não sem algo da ordem do humor, o que faz destes restos outra coisa. A gambiarra não remeteria mais ao valor de uso, daí a pertinência em diferenciá-las?
[i] Trechos da minha participação no segundo encontro do Seminário Clínico da EBP-RJ (2019) sobre a presença do analista, coordenado por Marcus André Vieira e Romildo do Rêgo Barros.
[ii] Lacan, J. Seminário, livro 16: Do Outro ao outro, cap. “Paradoxos do Ato Analítico”. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ed., 2008, p. 338.
[iii] Idem.
Consentir com a interpretação
Intitulei minha intervenção de hoje, sobre a interpretação em psicanálise, de “Consentir com a interpretação”[1]. De fato, proporei que a interpretação em psicanálise só é possível, aceitável, se houver um consentimento do sujeito com a interpretação. Esse consentimento supõe uma forma de despojamento de si, sob o efeito da transferência. O consentimento com a interpretação é, no fundo, o consentimento em soltar as amarras da fala e em ser ouvido para além daquilo que digo.
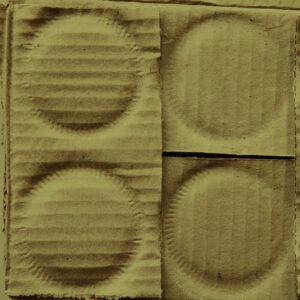 Deixar-se interpretar
Deixar-se interpretar
Ora, consentir com a interpretação não é evidente, mesmo quando há o encontro com um analista. Um sujeito que vem testemunhar um sofrimento, um traumatismo psíquico e sexual, está necessariamente pronto para se deixar interpretar?
Como analista, pode-se fazer a experiência desse momento do começo da análise em que um sujeito consente em se deixar interpretar, ou melhor, em recolher uma resposta que interpreta suas falas deslocando, fazendo ressoar, interrompendo, enfatizando, repetindo. A interpretação que pode simplesmente tomar a forma de uma citação das formulações do analisante, como disse Lacan no Seminário 17, remete aquele que fala à sua própria fala, constituindo-a como um enigma. “À sua maneira, a citação é também um meio-dizer”[2]. Lacan articula, assim, enigma e enunciação: “A interpretação […] é com frequência estabelecida por um enigma. Enigma colhido, tanto quanto possível, na trama do discurso do psicanalisante”[3]. Citar as formulações do analisante é também passar do discurso do mestre ao discurso do analista. “Se a palavra é tão livremente dada ao psicanalisante […] é porque se reconhece que ele pode falar como um mestre”[4]. Em suma, a citação pode remeter ao analisante um enigma no nível de sua enunciação, ali onde seu enunciado o fazia falar como um mestre.
O consentimento com a interpretação, como entrada na experiência analítica, é um consentimento com o não-saber. Mas isso supõe que esse não-saber, esse ponto de interrogação, não seja percebido como um requestionamento da verdade do sofrimento. Este é o ponto delicado hoje, me parece, em relação à interpretação da vida sexual. A experiência da análise engendra essa possibilidade de interpretar o que acontece com o sujeito do ponto de vista de seu desejo e de seu gozo. Lacan também o diz assim: a experiência analítica remete a fala à “contundência da enunciação do oráculo”[5] e, nesse sentido, “a interpretação desencadeia a verdade”[6]. Ora, esse desencadeamento da verdade também pode produzir uma angústia, e até mesmo um pânico.
O analista do século XXI deve, portanto, proceder com uma grande prudência antes de desencadear a verdade. É uma questão de tato, mas também de temporalidade. Interpretar uma experiência traumática pode ser recebido pelo sujeito como um requestionamento da verdade dessa experiência, até mesmo como uma culpabilização. Não interpretar rápido demais, medir os efeitos de uma intervenção, dar tempo ao sujeito de fazer-se ao ser, como dizia Lacan, ao ser que ele é e não o fazer ver cedo demais ou rápido demais são, portanto, dimensões fundamentais da interpretação, uma vez que ela não se situa apenas no nível da lógica dos significantes.
Rejeição contemporânea da interpretação
Gostaria de retornar à dificuldade que encontramos, em nossa época, no que diz respeito à prática da interpretação. O sinal dos tempos, em matéria de discurso sobre sexo, é bastante hostil à interpretação. Tudo se passa como se a interpretação pudesse ser recebida como uma recusa em reconhecer o real do sofrimento. Tudo se passa como se o sofrimento psíquico também não devesse conter, em si mesmo, algum sentido, ou seja, uma relação com o desejo. A ideia lacaniana segundo a qual isso fala, ali onde menos o esperávamos, ali onde isso sofre, não está em conformidade com os discursos dominantes sobre o sofrimento em relação à vida sexual, pois esta tese supõe que o sofrimento possa ser decifrado. Esta tese supõe também que um sentido próprio possa remeter a um sentido figurado. Pareceria que, em muitos discursos do nosso tempo, não haveria mais lugar para o sentido figurado e que só há legitimidade reconhecida no sentido próprio. Em suma, pareceria ser preciso acreditar em um possível domínio da linguagem, como se houvesse, hoje, uma verdadeira recusa da transcendência da linguagem. “O que o inconsciente demonstra é […] que a fala é obscurantista”[7]. Ou seja, esse obscurantismo implica ser experimentado como uma possibilidade de ouvir diferentemente o que eu acreditava dizer, a partir de uma intenção que julguei clara. Isso implica consentir com esse deslocamento, segundo o qual minha própria fala me conduz a me encontrar ali onde eu não sabia que estava. A postura contemporânea que nega à fala esse núcleo de obscuridade é também uma postura que acredita na transparência possível de si mesmo. Essa postura solapa a psicanálise, porque ela tem a ver com uma rejeição do inconsciente.
Em matéria de sexo, de identificações sexuadas, o destino é comumente abordado apenas como destino anatômico e muito pouco como destino psíquico. A ideia lacaniana segundo a qual o sintoma é uma questão que o ser formula “lá de onde ele estava antes que o sujeito viesse ao mundo”[8] é herética em nossa época. A ideia segundo a qual nascemos mal-entendidos, pois nascidos de um mal-entendido entre dois seres, e a ideia de que fomos falados antes de sermos falantes, muito simplesmente em virtude da maneira como aquelas e aqueles que quiseram que nascêssemos falaram de nós, essa ideia é como que recusada. A abordagem do corpo, tal como Lacan a preconiza, supõe levar em conta os efeitos da fala sobre o corpo. “Sejamos radicais aqui: seu corpo é o fruto de uma linhagem da qual uma boa parte de seus infortúnios se deve ao fato de ela já estar nadando no mal-entendido tanto quanto podia”[9]. É essa dimensão estrutural do mal-entendido e da relação com a linhagem de onde venho que, no fundo, faz ressoar toda interpretação. Você fala de um lugar que você não conhece, suas palavras dizem a maneira como você tramou alguma coisa como um destino a partir dos acasos, dos encontros que o impeliram aqui e ali. Consentir com a interpretação é, portanto, a um só tempo, consentir com o obscurantismo da linguagem e com a inscrição em uma linhagem que começou muito antes de eu nascer.
Ora, a maneira como os Modernos, para falar como Éric Marty, abordam as questões da sexualidade deixa pouco espaço para essas duas dimensões. Como ele afirma: “não queremos mais interpretação”[10]. Em suma, não se quer mais causalidade psíquica. Por isso mesmo, não se quer mais um destino significante, nem um destino de gozo. Não se quer mais esta “primazia do significante em relação às significações de nosso destino mais pesadas de carregar”[11].
Assim, no fundo, o efeito da interpretação é, de fato, este: ele leva a perceber que as significações mais pesadas de nosso destino a serem carregadas têm a ver com a dominância do significante sobre nossa existência psíquica.
O documentário Petite fille, de Sébastien Lifshitz, que despertou o interesse dos psicanalistas e foi objeto de uma análise por nossa colega Hélène Bonnaud[12], testemunha também, através do sucesso encontrado por ele, a adesão de uma parte do público a essa abordagem puramente identitária da vida sexual, recusando a dimensão da relação com a história, com a fala e com a linguagem.
O que me impressionou nesse documentário foi a recusa da dimensão da causalidade psíquica. O médico que atende a mãe de Sasha – a mãe desta criança que nasceu menino, mas se sentindo menina – lhe pede, durante a entrevista com esta, para ela lhe falar sobre essa criança. A mãe traz um elemento decisivo, do ponto de vista de uma perspectiva analítica, considerando o desejo do Outro como o lugar a partir do qual um ser vem a se reconhecer. A mãe diz que desejava uma menina, mas que teve um menino. A resposta do médico é categórica: então, não sabemos de onde vem a disforia de gênero, mas temos certeza de que isso não tem nada a ver com o fato de você ter desejado uma menina. Em suma, não conhecemos a causa desse sintoma, mas o que sabemos é que ele não tem nada a ver com o desejo dos pais. Portanto, nenhuma interpretação.
Herdeiro de um mal-entendido
Em suma, trata-se do fato de que a fala da criança testemunha uma realidade que afeta seu corpo, sem que essa realidade conduza a qualquer interpretação, sem que essa realidade seja articulada a um destino, no sentido lacaniano do termo, ou a uma história e, portanto, a uma simbolização do vivido. Trata-se de deter-se ao vivido como um fato. A distinção elaborada por Lacan entre o vivido e o destino[13] é claramente feita para dar conta do que separa o regime da interpretação, notadamente com sua dimensão simbólica, do regime do reconhecimento de um transtorno como o da disforia de gênero. Assim, E. Marty observa que, hoje, no discurso dos estudos de gênero, não se quer mais que os fenômenos que afetam o corpo tenham um sentido. Há apenas o social. O indivíduo sofre com as normas de gênero que não lhe permitem aceder à verdade daquilo que ele é. Apenas a causalidade social é invocada.
Lembro-me de um paciente extremamente perseguido encontrado em uma instituição, que havia enunciado sua posição em relação à linguagem, por ocasião da primeira entrevista, de uma forma que não poderia ter sido mais clara, em tom de injunção: “Não quero que se diga que o que eu digo significa outra coisa que não o que eu quis dizer!” Respondi que ele foi muito claro no que acabara de dizer e que ele tinha toda razão de dizê-lo assim. “O que eu digo não quer dizer nada além do que eu digo” é uma maneira de afirmar que não há nenhum “querer dizer” que me escape. Eu sou o mestre da linguagem, me dizia ele, de algum modo.
Poder-se-ia dizer que há, hoje, nos discursos dominantes sobre o sexo e o gênero, alguma coisa como uma recusa da interpretação, como se esta fosse uma recusa do sofrimento do sujeito, como se ela fosse, talvez, até mesmo uma ameaça para o sujeito. Poder-se-ia quase falar de uma sensitividade à interpretação.
Em O sexo dos Modernos, E. Marty ressalta, a propósito dos trabalhos de Judith Butler, um clima de dessubjetivação[14] do acontecimento da sexualidade. Não se quer que a sexualidade seja da ordem de um acontecimento subjetivo. Quer-se que o corpo seja, de algum modo, disjunto da história do sujeito. É. Marty assim respondeu a Jacques-Alain Miller na entrevista que tiveram juntos, em 2021, para Lacan Quotidien[15]. O íntimo estaria fora do sujeito no corpus butleriano:
“Estamos em um espaço de pensamento que considera obsoleta qualquer referência ao sujeito, à subjetividade”[16], um espaço de “uma pós-soberania do sujeito”[17]. Foi também sobre essas questões que trabalhamos com Fabian Fajnwaks em 2014, durante nosso seminário na ECF sobre “Subversão lacaniana das teorias de gênero”, seminário que resultou em uma publicação[18]. Havíamos mensurado essa antinomia entre a abordagem butleriana da vida sexual, que a reduz ao encontro com as normas sociais, causa de sofrimento, e a abordagem lacaniana que faz da sexualidade e também da feminilidade o confronto com um fora-da-norma.
Para Lacan, “o ser se mede pela falta própria à norma. Existem normas sociais por falta de qualquer norma sexual”[19]. Se a vida sexual faz acontecimento para o sujeito, é na medida em que ela não responde mais a nenhuma norma. A psicanálise, ao contrário do discurso crítico que pode ser desdobrado em relação a ela a partir dos estudos de gênero, não visa a adaptar o sujeito às normas da sociedade, mas a lidar com essa ausência de normas sexuais. A psicanálise abre, então, um espaço para a dimensão traumática da vida sexual sem reduzi-la a uma anormalidade, a um discurso sobre normas ou a um problema comportamental. Ela começa com a interpretação dos vestígios do trauma, ou seja, com a questão da causalidade. De onde vem o sofrimento? Qual a causa do mal-estar que o sujeito experimenta em seu corpo e em sua existência?
Como Jacques Borie o enuncia: “Dizer que o sujeito tem que responder por isso é uma maneira de formular como convém a ética da psicanálise, a ética como responsabilidade de um dizer por vir”[20]. O fim da análise coincide, em parte, com este momento em que o sujeito pode cingir em que medida seu sintoma testemunha esse mal-entendido herdado por ele, essa tagarelice de seus antecedentes[21] que fez destino.
Clotilde Leguil
Tradução: Vera Avellar Ribeiro
[1] Conferência de 12 de fevereiro de 2022, Seção clínica de Clermont-Ferrand.
[2] Lacan J., O seminário, livro 17: o avesso da psicanálise, texto estabelecido por Jacques-Alain Miller. Rio de Janeiro: Zahar, 1992, p. 35.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Lacan J., O seminário, livro 18: de um discurso que não fosse semblante, texto estabelecido por Jacques-Alain Miller. Rio de Janeiro: Zahar, 2009, p. 13.
[6] Ibid.
[7] Lacan J., “Dissolution”. Aux confins du Séminaire, texto estabelecido por Jacques-Alain Miller, Paris, Navarin éditeur, coll. La Divina, 2021, p. 67.
[8] Lacan J., “A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud”. Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 524.
[9] Lacan J., “Dissolution”. Aux confins du Séminaire., Op. cit., p. 74.
[10] Marty É., “Genre”, ABCpenser, https://abcpenser.com/
[11] Lacan J., “A psicanálise e seu ensino”. Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 448.
[12] Cf. La chronique d’Hélène Bonnaud, « Sasha, une petite fille comme les autres ? ». Lacan Quotidien, n° 903.
[13] Cf. Lacan J., O seminário, livro 2: o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise, texto estabelecido por Jacques-Alain Miller. Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p. 57-72.
[14] Marty É., Le sexe des Modernes. Pensée du neutre et théorie du genre. Paris: Seuil, 2021, p. 489.
[15] Cf. “Entrevista sobre O sexo dos Modernos”. Correio-espress, extra, nº 18, 14 de abril de 2021.
[16] Ibid.
[17] Ibid.
[18] Fajnwaks, F. e Leguil, C., Subversion lacanienne des théories du genre. Éditions Michèle, 2015.
[19] Lacan J., Revue Le Coq-Héron, nº 46-47, 1974, p. 3-8.
[20] Borie J., « Traumatisme, destin, choix ». Quarto, n° 77, p. 74.
[21] Cf. Lacan J., « Dissolution ». Op. cit., p. 75.
Editorial – PUNCTUM 5
 XXIV Encontro Brasileiro, Analista: Presente! Está logo aí. E Punctum 5 está no ar, com muitas preciosidades.
XXIV Encontro Brasileiro, Analista: Presente! Está logo aí. E Punctum 5 está no ar, com muitas preciosidades.
Deixar-se interpretar, rejeição contemporânea da interpretação e precisões sobre a distinção entre vivido e destino é o que nos traz nossa convidada Clotilde Leguil em seu texto “Consentir com a interpretação”. Texto para ser lido e relido, pois é um orientador clínico.
Nossa colega da EBP, Nohemí Brown nos traz, a partir de um pequeno recorte clínico a presença do analista como uma “presença pressentida”, que se insinua, em seu texto “Voz e moldura”.
Em “Bibliografia e ressonâncias”, Cristiane Barreto faz ressoar a afirmação de Lacan: “O inconsciente é a política”. A urgência subjetiva e o enlaçamento entre dizer e tempo, é o que nos traz Luiz Felipe Monteiro com Lacan em seu seminário “Momento de concluir”.
E para vermos e ouvirmos, nosso colega da EOL, Ricardo Seldes, nos coloca uma questão fundamental: “como entender a presença do analista em uma prática que é essencialmente o tratamento da palavra pela palavra”. Vale ouvir atentamente. E para ouvir o que foi escrito, inauguramos “Tuítes falados”, com vários colegas da EBP.
Como disse o poeta e músico Chico Buarque, “A manhã renasce e esbanja poesia”. Brasileiro e psicanalista: Presente!!!!
Patricia Badari
Pela Comissão de Site e Boletim