O analista, o real e a época – notas em progresso
“Cada época tem seu fascismo e a isso se chega de muitos modos, não necessariamente com o terror da intimidação policial, mas também negando ou distorcendo informações, corrompendo a justiça, paralisando a educação, divulgando de muitas maneiras sutis a saudade de um mundo no qual a ordem reinava soberana, e a segurança dos poucos privilegiados se nutria do trabalho e do silêncio forçado da maioria”[2] (Primo Levi).
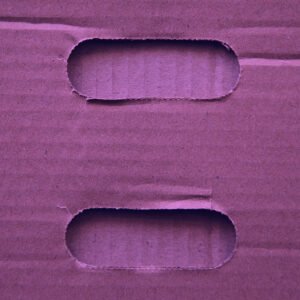 I. Testemunho
I. Testemunho
Por que ao propor o procedimento do passe, Lacan elege o testemunho como modalidade de transmissão da passagem de analisante a analista? Tal eleição teria alguma relação com os testemunhos de sobreviventes que naquele momento, mais que no período imediatamente posterior ao final da guerra, circulavam na cena europeia? Um dado digno de nota, que não passou despercebido em minha pesquisa nos arquivos do Centro di Studi Primo Levi, é que, coincidência ou não, no contexto dos testemunhos de sobreviventes dos campos de concentração nazistas aquele que transmite a outros o testemunho de um sobrevivente é chamado de “passador” [3]. Passador era também o termo utilizado para se designar as pessoas que passavam judeus das zonas ocupadas para zonas livres durante a guerra.
Em conferência proferida por ocasião da abertura da XXII Jornada da EBP-MG, Christiane Alberti enfatiza que Lacan teve muito em conta o laço social e as suas transformações, ao ponto de registrá-lo, em sua teoria, como um real que devemos levar em consideração[4], evocando, na esteira do texto da Proposição de 9 de outubro de 1967, o campo de concentração e os testemunhos dos sobreviventes como os fatos históricos tributários da integração do real à sua teoria. Tal eleição não parece desarticulada do ponto trazido à luz por Clotilde Leguil, ao afirmar que ademais atestar o surgimento do inconsciente, o termo “testemunha” dá conta da função da presença do analista como como testemunha do que se perde, como presença articulada a uma perda[5].
Não me parece irrelevante que no texto da Proposição[6], o campo de concentração apareça como um dos pontos de fuga em perspectiva do nó que ata a psicanálise em extensão à psicanálise em intensão. O campo e concentração é tomado no texto da proposição sobre o psicanalista da Escola como facticidade real, e ao lado das consequências do remanejamento dos grupos sociais pela ciência, gatilho para uma ampliação cada vez mais dura dos processos de segregação. É o que vemos, hoje. Trazer o campo de concentração como facticidade real e o nazismo como um reagente precursor[7], indica uma fratura, um antes e um depois na história do século vinte. Uma fratura também naquilo que concerne à sociedade psicanalítica, textualmente explicitado em ambas as versões da Proposição, e de modo contundente na primeira versão[8]. O que não nos deixa desviar da questão sobre quais seriam os três pontos de fuga que atariam a psicanálise em extensão à psicanálise em intensão, hoje. Questão atinente tanto ao destino das instituições fundadas sobre o modelo do exército e da Igreja, quanto à presença do analista nos campos clínico e político.
II. O analista, a Escola e a época
Alguns significantes me chamam a atenção em “Ponto de Basta”[9], aula de 24 de junho de 2017 proferida por Jacques-Alain Miller no contexto da penúltima eleição presidencial, e da ascensão da extrema direita na França: se engajar, escolher, discernir, perceber, saborear, examinar, provar. O que é do registro da escolha é também do registro do gosto. A heresia, no que concerne ao campo da escolha, ancora-se profundamente na língua, diria até mesmo que sobretudo na língua, em sua singularidade desconcertante. As escolhas não devem ser pensadas unicamente no campo das idealidades, elas estão enraizadas no corpo, no gozo do corpo, no sinthoma, por isso o analista não é um indiferente. O desejo do analista não é um desejo de nada. É um desejo pautado em uma ética, inclui uma política, na própria posição a que faz jus.
Vejamos o comentário de Lacan destacado por Miller à propósito de Freud, em “A direção do tratamento” – “Quem, tão intrepidamente quanto esse clinico apegado ao terra-a-terra do sofrimento, interrogou a vida em seu sentido, e não para dizer que ela não o tem – maneira cômoda de lavar as mãos, mas para dizer que tem apenas um, onde o desejo é carregado pela morte”[10] (uma resposta heideggeriana de Lacan). Nenhum niilismo aqui. Miller se declara impactado pela expressão “clinico apegado ao terra-a-terra do sofrimento”, a partir da qual retoma os tempos da existência de uma Escola, com as suas escanções e momentos cruciais, mas sobretudo sobre a distinção entre a Escola como sujeito e a Escola como instituição, tema medular em Teoria de Turim[11].
A instituição não é o mesmo que a Escola-sujeito. É preciso “estar em condições de produzir um ato como Escola-sujeito”[12]. O ponto nodal aqui é o ato. Não há Escola-sujeito sem ato. Ela somente tem existência como um efeito de um ato.
No mesmo texto já citado por Miller, Lacan profere – “que antes renuncie a isso quem não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época”. A época é dotada de subjetividade, a subjetividade de uma época é o que a anima, a sua mentalidade, o que confere a ela um horizonte e um limite que, seguindo Miller “coage os pensamentos” ao mesmo tempo em que “designa a sua coerência”. Não se refere aqui aos seus atributos, a isso que é palpável e se pode nomear ou classificar no plano individual. Não se refere ao que seriam os atributos “individuais” de uma época, deslocando inclusive o binômio “individual – coletivo”: A subjetividade é transindividual. O que Lacan quis dizer com isso, em seu Relatório de Roma? Ele se refere ao “discurso concreto” como sendo o campo da realidade transindividual do sujeito. O ponto nodal aqui é o discurso como categoria que extrapola o binômio individual – coletivo. O transindividual parece operar uma torção ou uma dobra, ou constituir-se como litoral. Caberá pensar esse conceito a partir das proposições topológicas de Lacan, que nos reenviam ao plano da extimidade.
O exemplo memorável trazido por Miller nesse texto é o dos três prisioneiros tomados como indivíduos ligados, e mesmo enganchados uns aos outros de modo a formar uma subjetividade, tanto no sentido de horizonte, quanto de limite, na medida em que a subjetividade é prisioneira da época, de seu Zeitgeist. Lacan o articula à dialética em sua acepção hegeliana, o que se esclarece na posição do analista como eixo de tantas vidas na medida em que está advertido, que sabe da dialética que o compromete com essas vidas num movimento simbólico. Também uma Escola, na qual sujeitos estão engajados, tem um caráter transindividual, e me parece, tomando a sério e esse ponto, que possamos estender tais proposições aos seus dispositivos, sobretudo, ao dispositivo do Passe. O passe de uma Escola não é o Passe-Instituição. Só há passe em ato, e no horizonte de uma Escola-sujeito.
III. Se “o coletivo é o sujeito do individual”, em que consiste um cálculo coletivo?
O que leva Lacan a afirmar que o grupo e a massa não seriam de um registo diferente daquele do sujeito? E ademais, já na última nota de rodapé de “O tempo lógico e a asserção da certeza antecipada”, remetendo o leitor ao primeiro parágrafo de Psicologia das massas e análise do eu, o que o leva a auferir que “o coletivo não é nada senão o sujeito do individual”? [13]. Lacan faz a ressalva de que a objetivação temporal presente no sofisma, ponto nodal do que se produz como certeza antecipada, é mais difícil de conceber à medida que a coletividade aumenta, “parecendo criar obstáculo a uma lógica coletiva com que se possa complementar a lógica clássica”[14].
Note-se que a questão nos reenvia às premissas da lógica clássica, das premissas à conclusão como valor de verdade, como bases sobre as quais Lacan demonstra, nesse texto, a asserção subjetiva antecipatória: “1º) Um homem sabe o que não é um homem; 2º) Os homens se reconhecem entre si sendo homens; 3º) Eu afirmo ser homem, por medo de ser convencido pelos homens de não ser homem. Movimento que fornece a forma lógica de toda assimilação “humana”, precisamente na medida em que ela se coloca como assimiladora de uma barbárie…”[15]
Ana Lucia Lutterbach[16] ressalta que nesse texto de 1945, Lacan se refere à subjetividade de sua época como movimento simbólico, uma referência ao inconsciente estruturado como linguagem e ao desejo como desejo do Outro. Outro que traz em si a história e os traços fundamentais da civilização. Mais tarde, a partir do Seminário 17 e até o fim de seu ensino, Lacan se refere não só à dialética do desejo, à história, como também às implicações do gozo no laço social. Tema amplamente desenvolvido por Éric Lautent em O avesso da biopolítica, a partir das “lógicas do acontecimento de corpo”[17] e das suas formulações sobre “O falasser político”[18].
Como pensar essa assertiva nesses dois momentos do ensino de Lacan? O que os aproxima e o que os diferencia, no que concerne às torções entre o coletivo, o individual, o subjetivo e o transindividual? Me parece muitíssimo fecundo tomar tais indicações como diretrizes para uma leitura dos laços entre a clínica, a política e o campo social, nesse tempo que é o nosso.
Nessa perspectiva, a das implicações do gozo no laço social, trago ao debate uma passagem de Lacan no Seminário 16, de um Outro ao outro, em que as vicissitudes do laço entre o Outro e o gozo são tomados não na perspectiva da fantasia, mas naquela do traumatismo em sua vertente real, o que, me parece prevalecer hoje, em detrimento do trauma em suas coordenadas simbólicas. Tal perspectiva se articula com a facticidade real proposta por Lacan na Proposição de 1967, indicando que a lógica do campo de concentração, onde quer que ela esteja, desembocará no que Lacan aponta neste seminário: em situações-limite em que gozo e corpo se separam[19].
IV. Traumatismo e lalingua: assuntos de política
A linguagem, cujas leis podemos estudar, veicula em sua estrutura o laço social, ao passo que com lalingua temos uma camada subterrânea passando por debaixo da norma social, e a dimensão fônica da linguagem, fonte dos mal entendidos infantis, das significações investidas de libido. Se ao nível da linguagem encontramos o significante articulado, no âmbito de lalingua temos o S1, o significante sozinho, imantado de substância gozante[20].
Nos campos de extermínio a incomunicabilidade levava rapidamente à morte. O murmúrio, o balbucio, o urro, rompiam a densa barreira do mutismo, tal como Primo Levi narrou em A trégua – nos dias que se seguiram à chegada do exército russo no Campo de Buna-Monowitz – a propósito de Hurbinek, nome atribuído a uma criança provavelmente nascida no Lager, a partir dos sons inarticulados que emitia. Não sabia falar. Já os seus olhos dardejavam, terrivelmente vivos, cheios de vontade de romper a tumba do mutismo [21]. A necessidade da palavra… comprimia seu olhar com uma urgência explosiva: era ao mesmo tempo um olhar selvagem e humano…. carregado de força e de tormento[22]. Matisklo, que se aproximava a uma palavra articulada, foi o único rudimento de palavra pronunciado ao longo de sua breve existência naqueles dias de convivência entre os prisioneiros recém liberados nas enfermarias do Lager.
No Seminário 16, de um Outro ao outro, Lacan postula que em situações-limite gozo e corpo se separam. Jacques-Alain Miller enfatiza que é essa separação entre o gozo e o corpo que faz com que o gozo seja, antes, do Outro. Ele diz: sabemos dos traumatismos devidos ao fato de um Outro ter forçado ou imposto seu gozo ao nosso corpo. Esse regime de violação é certamente o que há de mais traumático. Somos forçados aqui, a colocar entre aspas a palavra fantasia e conceder crédito a esse traumatismo, e em sua estrutura, separar o corpo e o gozo, quando é o gozo do Outro que se impõe. O corpo se esvazia de gozo. Num caso temos as vicissitudes do trauma, no outro o regime de violação, o aniquilamento, as situações em que gozo e corpo se separam. Ao que tudo indica, Matisklo de algum modo reconectou, naquele breve batimento de uma vida, gozo e corpo, como testemunharam os olhos de Hurbinek.
V. Racismo, segregações
Ao ser interrogado (em “Televisão”) de onde viria sua segurança em preconizar uma nova escalada do racismo justo naquele momento (estamos em 1973) em que imperava uma atmosfera de otimismo diante da promessa de integração das nações por meio dos mercados comuns – Lacan dirá: “No desatino do gozo – só há o Outro para situá-lo – mas na medida em que estamos separados dele”[23].
Na esteira das questões atinentes à segregação, vale interrogar: 1) Se a segregação horizontal e “ramificada”[24], na escala e magnitude que vemos hoje, seria uma derivação da “segregação estrutural”[25], aquela inerente à constituição o sujeito e à ordem simbólica, ou responderia a uma lógica diferente; 2) Se a ordem simbólica se funda ao deixar algo fora dela, a ser simbolizado no interior, como ausente – quais seriam as consequências para o laço social, da precarização desta operação, ou seja, da generalização, em larga escala na civilização, dos impasses quanto a efetivação desta operação? 3) O que isto nos esclarece sobre a chamada ‘cultura do cancelamento’ e a generalização do ódio que lhe é tributária?
Chamam a atenção, sobretudo na última década, as proporções tomadas pelos linchamentos virtuais e a manipulação da opinião pública pelas as fake news, o que no Brasil vem incitando a truculência e dogmatismo crescentes no âmbito da cena política. Tais fenômenos, não estão desarticulados, e mais que isso, parecem manifestações contemporâneas daquilo que Lacan aponta sob a égide de uma segregação ramificada, reforçada, que se sobrepõe em todos os graus, não fazendo senão multiplicar barreiras. Talvez como um dos efeitos do que apontava já em 1967, mas desta vez sob as injunções da biopolítica, da tecnologia e consumo de massas, cujas incidências vão além da queda do falocentrismo. O mundo regido pela ordem simbólica, em que cada coisa estava em seu lugar, aferrolhada pelo patriarcado, assegurada pelas leis enganchadas ao Nome-do-Pai, ponto de partida de Lacan, caminha, no segundo tempo de seu ensino, rumo a uma direção oposta: aquela do desmantelamento metódico, constante e feroz da pseudo harmonia da ordem simbólica.
Os aparelhos tecnológicos (celulares, tablets e similares) parecem funcionar, hoje, como extensões do próprio corpo, ao ponto de se acessar por meio de um único e mesmo dispositivo crushes, nudes, o relógio, as redes socias, e… o analista.
Com a prevalência dos imperativos do consumo, o ideal democrático parece se deslocar, pois já não se funda na igualdade como ideal ou princípio; mas no direito ao gozo como finalidade que se quer garantir. Ou seja, é em nome do direito ao gozo que muitas vezes se apela à igualdade. Assim, em nome do gozo, as democracias liberais de massas consumidoras incorrem no risco de engendrar, paradoxalmente, uma espécie de autoritarismo às avessas: a soberania popular cedendo seu lugar à soberania do consumidor, o que desemboca não num consentimento à multiplicidade dos gozos, mas no rechaço à diferença.
É nesse contexto, que, para conter ou corrigir os excessos da pulsão, incorre-se nos dogmatismos, ou apela-se a um deus restaurador da ordem e/ou aos programas e ações políticas de vocação totalitária. Vide o atual avanço dos nacionalismos, não mais apoiados em ideias ou em utopias, mas em slogans legalistas e messiânicos. Tendo-se chegado a este ponto, não seria demais afirmar que o declínio das sociedades patriarcais em sociedades de massas consumidoras tenha uma incidência sobre a crise das democracias representativas.
VI. Extimidade
Desde a primeira vez que li as duas versões da Proposição, me perguntava o que uma menção aos campos de concentração nazistas estaria fazendo em um texto que pretendia interrogar a formação do analista e as bases das instituições analíticas.
Me ocorria que tais menções se justificariam por certa porosidade da instituição analítica às questões e impasses de seu tempo e, mais do que isso, ao modo de Lacan de pensar topologicamente a instituição analítica: o que pareceria à primeira vista localizar-se numa relação de exterioridade ao campo da prática estritamente analítica, encontrar-se-ia, ao mesmo tempo, em seu mais “íntimo”, em seu “interior”.
É importante observar – e nisso reside toda a sutileza da questão – que o problema não parece estar, propriamente, numa relação de causalidade direta entre a segregação e a violência, ou entre a segregação e o mal radical dos qual nos fala Hannah Arendt, por exemplo. A segregação é consubstancial à operação simbólica, na medida em que segrega-se o que resiste a integrar a própria rede de referências e significações; segrega-se o gozo outro, deslocado, inassimilável, mas segrega-se, sobretudo, a partir de um não saber fundamental sobre o gozo. O gozo maligno em jogo no discurso racista se nutre do desconhecimento da lógica que o constitui: seu crime fundador não seria tanto o assassinato do Pai, “mas a vontade de aniquilar aquele que encarna o gozo que eu rejeito” [26], argumenta Laurent, em Racismo 2.0.
A questão central para Lacan no texto de 1967 sobre a formação do psicanalista, é que tais formas de universalização, recaindo numa espécie de homogeneização, acabariam por solapar o que estaria em jogo na segregação como fenômeno de estrutura, camuflando a lógica sobre a qual o fenômeno de estrutura se funda, e com a qual só se tem a chance de operar se não estiver totalmente subsumida ou encoberta pelo discurso do Mestre, por bandeiras ideológicas, por uma rejeição absoluta, ou por soluções homogeneizantes. Ademais, não é incomum atribuir-se como causa da segregação de estrutura, a suposta vontade caprichosa de um Outro mau, de um Deus maligno e obscuro. Foi precisamente no horizonte dessas reflexões que Lacan evocou, nos anos sessenta, e mais precisamente, no Seminário 11, o advento do nazismo[27]. O que significa o sacrifício sobre o qual Lacan discorre? O que corre nas entrelinhas do ato sacrificial, e por que ele seria tomado de fascínio? Lacan esclarece que, no objeto de nossos desejos, tentamos encontrar o testemunho da presença do desejo desse Outro, que ele chama de “Deus obscuro”. Esse seria o ponto cego, medusante e pleno de fascínio, que poderá cercar a dimensão do sacrifício, em nome e por causa do Outro. É em relação a este ponto cego e paralisante que a ignorância, a indiferença, ou o desvio do olhar são as respostas humanas, demasiadamente humanas.
Para o psicanalista, Lacan propõe “a abertura de olhos” que uma análise poderá permitir, diante do encontro de uma posição-limite, consubstancial às intrincadas relações entre o desejo, o objeto, o gozo e o Outro. Cabendo aqui uma ressalva: a segregação inerente à operação simbólica não é equivalente e nem mesmo similar à segregação que se descortina e é colocada em marcha com o advento do nazismo e da máquina concentracionária, fundadas na vontade arbitrária e no gozo mortífero de aniquilar o semelhante. Da segregação à serviço do aniquilamento. Quando o que vigora é a lógica concentracionária, indivíduos e populações inteiras, às expensas das ações, da vontade, ou do desejo de cada um em sua singularidade, são destituídos de sua condição de cidadãos e uma vez reduzidos brutalmente à condição de dejetos, ver-se-ão capturados e lançados numa situação aniquiladora, sem saída, monstruosa. Aqui não estamos diante dos fenômenos de segregação, mas do aniquilamento. De modo que não seria pertinente, nesse contexto, confundir esses diferentes registros da segregação, imputando a culpa da segregação atroz operada por uma política de extermínio, a cada um, individualmente. Ao invés de soluções simplistas ou das malfadadas inversões da culpa, mais vale tentar cernir as consequências das diferentes formas e manifestações da segregação, e entender como e porque elas conduziriam inevitavelmente a uma obstrução dos usos da palavra, a uma inércia e desconhecimento cada vez mais amplos daquilo que as sustenta e mantém, advertidos que nem a boa vontade, nem a simples denúncia, seriam capazes de substituí-las ou de minimizar os seus estragos.
VII. Democracia
O que está acontecendo com as democracias, hoje?[28] Que tipo de mutações estão em curso? É notório que os pilares da democracia, tal como praticada no século vinte, encontram-se fortemente abalados. Observa-se pelos quatro cantos do planeta a ascensão de representantes da extrema direita se elegerem democraticamente. Há certamente movimentos de cunho neofascista, que se nutrem das fixações residuais e não ultrapassadas dos grandes conflitos mundiais do século XX. Mas diferentemente dos movimentos fascistas do século passado, há nas manifestações obscurantistas deste início de século mais diferenças que pontos em comum, dificultando a sua leitura e interpretação, o que levou o cientista político Enzo Traverso a nomear esse conjunto de movimentos de “pós-fascistas”[29]: seu conteúdo ideológico é flutuante, instável e frequentemente contraditório, podendo abarcar ideias e crenças francamente antinômicos. Em lugar das diferenças e tensionamentos ideológicos, ganham terreno polarizações de todos os tipos, intensificando o “nós contra eles”, a partir da identidade personificada por um líder autoritário. No caso do Brasil, o incremento dos apelos reacionários ao modo de uma onda ultraconservadora se alastra no vácuo de uma crise da política representativa e de uma perda de confiança nas instituições.
Sabemos que as sociedades democráticas não são monolíticas e que é preciso manter certas condições ‘de temperatura e pressão’ para que não coloquemos a democracia em risco. Isso não quer dizer que não existam brechas e paradoxos. Um desses paradoxos, formulado por Claude Lefort[30], reside no fato de que o lugar simbolicamente vazio do poder não poderá ser apropriado ou encarnado por alguém. Sob esse paradoxo vive e respira o estado democrático de direito, que estará em perigo todas as vezes que esse lugar vazio se veja obturado ou confundido com quem detêm a autoridade. Foi o caso de Hitler, Mussolini e Stalin, e de tantos outros ditadores que floresceram no século XX. Isso poderá acontecer também quando se denegam as divisões internas aos poderes, resultando em uma indiferenciação das instâncias que regem politicamente a sociedade. Ou ainda, em situações em que o poder deixa de se constituir como um lugar simbolicamente vazio em nome da qual se governa, para se apresentar como realmente vazio, situação em que os governantes passam a ser percebidos como elementos de facções a serviço de um grupo de interesses, vendo sua legitimidade sucumbir em todas as extensões do tecido social, até que, no limite, já não se sustente uma sociedade propriamente civil. Antes de sua total corrosão, a sociedade se vê polarizada entre a defesa de um estado permissivo e rendido a grupos de interesse e o brado por um estado consubstancial à sociedade, que falando em seu nome venha a encarnar o corpo social de forma homogênea e sem brechas. Com essa polarização, nutre-se o ódio à diferença, motor da intolerância e da segregação. O laço social se fragiliza, chegando, às vezes, à ruptura.
VIII. A Escola como coletivo
Em “Teoria de Turim”[31], Miller enuncia o paradoxo da Escola nos seguintes termos: como entender o fato de que no momento que Lacan institui uma formação coletiva, suas primeiras palavras colocam em primeiro plano a solidão subjetiva. Essa formação coletiva “não pretende fazer desaparecer a solidão subjetiva, mas que pelo contrário se funda nela, a manifesta, e a revela”. Advertido de que a interpretação tem sempre um efeito desagregador, e sendo cada um separado do significante mestre, remetido à sua solidão, como essa comunidade se sustentaria? A proposição “A Escola é sujeito” e seu desdobramento, “A Escola é sujeito suposto saber”, aparecem como uma espécie de solução para o paradoxo entre a solidão do analista e a Escola como conjunto “antitotalitário” e inconsistente advindo dessa soma de solidões: “constituir esta comunidade é fazer da própria Escola um sujeito barrado”. A Escola precisa de estatutos, mas, sobretudo, de interpretações dela mesma como sujeito. Trata-se de que a determinação significante da Escola, suas organizações simbólicas complexas, suas publicações, tenham como efeito instituir a Escola como sujeito suposto saber”.
Em “Questão de Escola: proposta sobre a garantia” (2017), o problema se recoloca tendo como horizonte as mutações do Discurso do Mestre. A questão já não se enuncia unicamente em termos de uma “Escola sujeito”, como na “Teoria de Turim”. Miller ressalta a sua condição de “ser ambíguo”, uma “Escola Morcego”. O que está em questão é o embuste de pretender que o discurso analítico se funde como um discurso que não tomaria seus efeitos a partir do semblante. Donde o paradoxo: não apenas o do laço entre a solidão do analista e a Escola, mas aquele do discurso analítico como um embuste que toca o real: o discurso analítico não só dissolve os semblantes dos outros discursos, como também denuncia o próprio. O resultado dessa operação, ainda que tenha efeito de semblante, é desnudar o real. Como consequência, seu suporte de semblante, que é o sujeito suposto saber, se autodestrói. Se na “Teoria de Turim”, a Escola como sujeito suposto saber aparece como uma solução, em “Proposta sobre a garantia”[32] o sujeito suposto saber, como suporte de semblante do discurso analítico se autodestrói. Estaríamos diante de uma nova mutação, dessa vez, em relação aos destinos do sujeito suposto saber como suporte de semblante do discurso analítico? Convido-lhes a elaborar e extrair as consequências desta Proposta sobre a garantia, de Jacques-Alain Miller, a fim de fazermos uma releitura dos pontos de fuga da Proposição sobre o psicanalista da Escola, hoje, passados cinquenta e cinco anos de sua proclamação.
Lucíola Freitas de Macêdo
[1] Texto apresentado no dia 8/8/22 em atividade em conexão com o XXIV EBCF organizada pelo Conselho e pela Diretoria da Seção Rio.
[2] Levi, P. A assimetria e a vida. São Paulo: Ed. UNESP, 2016, p.56
[3] Mesnard, P. Primo Levi: uma vita per immagini. Venecia, Marsilio Editori, 2008, p.11, 102 e 144.
[4] Alberti, C. Há apenas isso: o laço social. Curinga, n.47, 2019, p.19.
[5] Em “Presença do psicanalista com testemunha da perda”. Boletim Punctum Extra. http://encontrobrasileiroebp2022.com.br/presenca-do-psicanalista-como-testemunha-da-perda/
[6] Lacan, J. Proposição de 9 de outubro de 1967. Outros Escritos, Rio de Janeiro, JZE, p.261-263.
[7] Lacan, J. Anexos. Outros Escritos, Rio de Janeiro, JZE, p.583.
[8] Lacan, J. Anexos. Outros Escritos, Rio de Janeiro, JZE, p. 583-584.
[9] Miller, J.-A. Ponto de basta. Opção Lacaniana, n.79, julho 2018, p.23-38.
[10] Lacan apud Miller. Ponto de basta, p.31.
[11] Miller, J.-A. Teoria de Turim. Opção Lacaniana on-line n.21, Nov.2016. Disponível em: http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_21/teoria_de_turim.pdf.
[12] Miller, J.-A. Ponto de basta, p.32.
[13] Lacan, J. O tempo lógico. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p.213.
[14] Idem.
[15] Idem.
[16] Cf. em https://jornadasebprioicprj.com.br/2022/local/.
[17] Laurent, É. O avesso na biopolítica. RJ, Contra Capa, 2016, p.61-64.
[18] Idem, p.201-219.
[19] Lacan, J. O seminário, livro 16: de um Outro ao outro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008, p.266.
[20] Miller, J.-A. A psicose ordinária, a convenção de Antibes, p. 286.
[21] Levi, P. A trégua. São Paulo: Cia das Letras, 2010, p.19.
[22] Idem, P.18-19.
[23] Lacan, J. Televisão. Outros Escritos, Rio de Janeiro, JZE, p.533.
[24] Lacan, J. Nota sobre o Pai. In: Opção lacaniana. São Paulo: Edições Eolia, n.71, dezembro 2013, p.7.
[25] Bassols, M. O bárbaro. Transtornos de linguagem e segregação. In. Opção lacaniana online nova série, ano 9, março/julho 2018, n. 25 e 26.
[26] LAURENT, Eric. Le racisme 2.0. In: Lacan Quotidien, n.371, 26 de janeiro de 2014. Disponível em: http://www.lacanquotidien.fr/blog/wp-content/uploads/2014/01/LQ-371.pdf.
[27] LACAN, Jacques (1964). O seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 1993, p.259.
[28] Para uma análise das questões atinentes a este tema no contexto do Brasil atual, recomendo: Bignotto,N., Starling, H. & Lago, M. Linguagem da destruição, a democracia brasileira em crise. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.
[29] Traverso, E. les nouveaux visages du fascisme. Paris: Textuel, 2107, p.13.
[30] Lefort, C. A invenção democrática: os limites da dominação totalitária. São Paulo: Brasiliense, 1983, p.75-77.
[31] Miller, J.-A. Teoria de Turim. Opção Lacaniana on-line n.21, nov.2016.
[32] Miller, J.-A. Questão de Escola: proposta sobre a garantia. Opção lacaniana nova série, ano 8, n.23, julho 2017.
Os três (mais um) planos da presença do analista
Por Marcus André Vieira*
• Este texto reproduz fragmentos escolhidos da participação do autor na discussão dos encontros do Seminário Clínico da Seção Rio em 2019 sobre a Presença do analista, coordenado por Marcus André Vieira e Romildo do Rêgo Barros, que contou com a participação de Nohemi Brown como convidada.
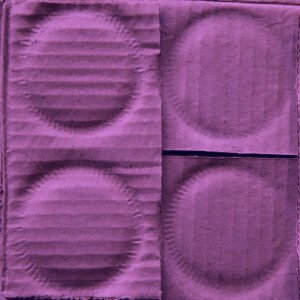 Tudo indica que retornamos a tempos pré-lacanianos quando temos que afirmar seguidamente que a presença do analista não é a incidência de sua pessoa no discurso analisante. Sem o analista como gente, sem empatia ou humanidade não há análise. São, porém, condições necessárias, mas não suficientes. Pior, tomadas como direção e motor da análise só levam ao doutrinamento ou, nos termos de Lacan, à identificação com o analista – quando se trata de transferência positiva – ou ainda a um contínuo enfrentamento – quando a transferência negativa está em primeiro plano. Vale conferir as indicações abundantes de Lacan a esse respeito em seus primeiros seminários ou em textos como A direção do tratamento.
Tudo indica que retornamos a tempos pré-lacanianos quando temos que afirmar seguidamente que a presença do analista não é a incidência de sua pessoa no discurso analisante. Sem o analista como gente, sem empatia ou humanidade não há análise. São, porém, condições necessárias, mas não suficientes. Pior, tomadas como direção e motor da análise só levam ao doutrinamento ou, nos termos de Lacan, à identificação com o analista – quando se trata de transferência positiva – ou ainda a um contínuo enfrentamento – quando a transferência negativa está em primeiro plano. Vale conferir as indicações abundantes de Lacan a esse respeito em seus primeiros seminários ou em textos como A direção do tratamento.
O perigo, porém, é fugir da empatia e da compreensão para cair nos braços de uma ontologia do silêncio e do mistério. O real passa a ser o silêncio das pulsões, inescrutável e inefável. A presença do analista passa a ser tomada como o real da psicanálise, como se bastasse estar na presença do analista para que houvesse análise. Ora, foi exatamente contra esse desvio que se insurgiu Lacan com relação à aberração que constituía a figura do didata na IPA de seu tempo. Esse também é o perigo de pensarmos, em tempo de análises on line, que a presença corporal bastaria como garantia da presença. Nunca é demais lembrar que quando Lacan fala em “o analista”, está falando de uma função, de uma posição, um “lugar de fala” no encontro analítico, que às vezes se materializa, às vezes não. A função analista é contingente. A presença do analista é ôntica, não ontológica. Nos termos de Miller, é existência, um ente, um existente e não um ser.
Bem-vindos, então, aos paradoxos de uma presença que não é, mas ainda assim é. É a presença como aquela que sustenta a existência, nos ditos do analisante, não de um indizível, mas sim da possibilidade de um dizer “a mais”. É contraintuitivo, mas assim é nosso trabalho, o de uma presença que se articula “ao que se diz”, como seu não-dito e que, apesar de ser articulada “ao que não se diz”, ainda assim é alguma coisa.
Este é o paradoxo que abordamos, desde Lacan, com o termo resto. O resto tanto é quanto não é. Não faz parte do que se diz, mas está por ali, por “cair” do dito. Uma vez dito o dito, o resto cai dele como aquilo que não era para estar ali.
Creio que o aforismo de Lacan em O Aturdito é uma maneira de retomar essa intrincada articulação, sem o imaginário do excluído e do lixo que sempre acompanham o resto. Além disso, assume todo o seu valor, quando estamos em um plano de exclusão e desigualdade no grau de violência que é o da nossa sociedade. Afinal, não é porque que alguém é excluído que não deva ganhar lugar. Já o resto lacaniano, é o resto irredutível, que nunca terá lugar a não ser como desencaixado.
Que se diga fica esquecido por trás do que se diz em o que se ouve.[1] Essa foi a tradução possível nos Outros Escritos. O “em o que…” ficou feio, mais natural seria dizer “no que…”, mas foi o modo de não perder a ideia de que aquilo que fica esquecido, assim fica, por estar “em”, dentro (dans) daquilo que se ouve.
Mas o mais difícil nessa frase me parece o “ouvir” (entendre). Há toda uma diferença entre uma atitude meio passiva, ouvir e uma ativa, de recorte e escolha em escutar ou mesmo entender que é outra tradução possível do termo usado por Lacan. Das três possibilidades, claramente Lacan fala de alguma coisa prévia ao ato de escutar, por isso optamos por ouvir na tradução oficial. Escutar ou entender é coisa da consciência que edita o discurso do Outro. Lacan está falando de um processo da fala, do ato de fala e não do ato de edição, de leitura do discurso do Outro, que fazemos a cada vez que conseguimos, dele, entender alguma coisa. Mas temos que ter em mente as três opções.
Então, para começar correndo o risco de escorregar no esquematismo didático, vamos experimentar o entendre como escutar. A tradução ficaria assim: Que se diga fica esquecido atrás daquilo que se escuta naquilo que se ouve. Vamos, agora, redizer a formulação passo a passo e de trás para frente. Quando algo se escuta naquilo que se disse, o dizer, o fato do dizer, o ato de enunciação, fica ofuscado pelo que, do que se disse, se entendeu.
Ora, essa operação de esquecimento, própria do discurso, esconde o gap entre o que se entende e o que se fala, como se houvesse uma comunicação transparente, sem distância entre intenção e gesto. Esse intervalo, porém, se apresenta aqui e ali e é o próprio da presença do analista fazê-lo aparecer. Neste caso, entre os dois, surge um dizer que ainda não está dito. Era um não dito que agora, no entanto, se decanta ou se deposita, como um quase dito, um fragmento de memória, por exemplo, entre o dito e o dizer. Isso é o nosso material de análise.
O que não se diz, aqui, não é puramente negativo (esse seria o caminho intuitivo: quando não dizemos alguma coisa, ela simplesmente não é, não é o que ocorre em uma análise).
Desde o texto de Freud sobre a negação, considera-se que se dissemos que não é a mãe, a mãe já está convocada, em cena. Para nós, psicanalistas, não há “não” que seja puro não. Lacan generaliza, afirmando que por sermos feitos de linguagem é quase impossível instituir uma negatividade pura. Para dizer o que não é, temos que, de algum modo, já dizer alguma coisa dele. Vale lembrar quando o Homem dos Ratos diz a Freud: “se por exemplo, fosse meu pai a sofrer uma desgraça…”. Ele fala como se fosse justamente nada, apenas um exemplo. E Freud intervém dizendo: o exemplo é a coisa. Essa intervenção materializa o “que se diga” no dizer do homem dos ratos sobre seu pai. Um segundo antes era nada, um instante depois já é um dizer que pode ser lido como um desejo inconsciente de morte, entre outras possibilidades.
Assim, em uma análise, tudo o que você disser pode depor contra você. Mas não porque há segredos nos porões, e sim porque, performativamente alguma coisa vem a estar ali. Essa coisa não estava guardada, escondida debaixo do silêncio. A presença de um silêncio específico, em um momento específico, cristaliza, decanta algo novo que estava ofuscado pela articulação até então em curso, pela maneira como o dito recortava um não-dizer.
Retomando mais uma vez o aforismo agora sem a inversão didática:
- Que se diga: esse é o fato de dizer, o ato de dizer; ele parece o sujeito da frase, por ser o que vem primeiro e, de fato, é o mais importante, mas vai ficar ofuscado pelo sujeito da frase, que está no final, o que se ouve. É o que se ouve que age, ofuscando o que se diga.
- O método de ocultamento de o que se ouve é se servir de o que se diz, do dito em questão. É uma operação sobre o dito que oculta o ato de dizer e essa operação é ouvir (que é muito mais que entender, escutar, mas também é isso). Ao depreender um o que se ouve em aquilo que se diz, oculta-se o ato de dizer, oculta-se o que se diga.
- Mas o que diz o que se diga, o ato de dizer? Por um lado, a potência do dizer, potência desejante em si, que é sempre aberta ao novo. A presença dessa potência do dizer, porém, tem outros efeitos além de abertura. Esse ato pode decantar alguma coisa outra que não a coisa ouvida.
- Essa alguma coisa é o não dito que se perdia quando se escutava, quando se queria demais entender alguma coisa. O que faz uma interpretação é colher alguma coisa nova no dizer que não o que se escutou no dito. A interpretação é a extração de um novo dito a partir da abertura do ato de dizer.
Materializa-se um real que é – nos termos de Lacan – sempre “hiância e texto”. No início de uma análise este real é mais texto do que hiância, no final a proporção se inverte, mas é sempre letra e gozo, indissociáveis.
Uma consequência disso é que em uma análise não há ato em um sentido puro, que aliás, nem existe. Apenas o suicídio seria um puro ato. Todo ato é o ato dentro de coordenadas significantes sendo, portanto, sempre ato de um dizer, mesmo que esse dizer esteja sempre em ruptura com o contexto em que se instaura. Desse modo, na análise, para cada dizer uma estrutura ternária se põe em jogo. Uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que eu sou no que eu digo, e outra ainda é o que posso vir a ser no dizer.
Vale retomar o relato descrito por Hilda Doolittle[2] de um momento de sua análise com Freud, tal como proposto por Miquel Bassols e que Nohemí Brown comenta.[3] Hilda manda flores a seu analista no aniversário dele, como sempre mandava, mas não assina o cartão. Freud não deixa o fato passar em branco e responde a ela agradecendo, e assim como ela, não assina a carta. Na sessão seguinte, ela fala como se isso não tivesse importância. No momento em que ela falava com indiferença daquele assunto, Freud bate no divã e diz: “o problema é que sou idoso, você não acredita que valha a pena me amar”. Estamos, infelizmente, deixando de lado todo um mundo de detalhes que compõem a relação entre eles, especialmente a transferência amorosa, e também negativa, de Doolittle para Freud. Seria preciso ler com calma o Tribute to Freud. Ficaremos apenas com as indicações de Bassols e Nohemí.
Vamos assumir que tudo está concentrado em três elementos ou três planos: o plano do dito, o plano do dizer e o plano do que se decanta entre o que se disse e o que se escutou do que se disse. E nessa história há ainda um quarto elemento, o próprio ato do dizer como potência de reconfiguração e recriação de si na fala.
O analista faz alguma coisa – bater no divã – e isso é algo que está na fala, é um dito, mas um dito entre dito e dizer. E, além disso, ele diz: sou velho demais para você. A partir daí, a dimensão da presença do analista vai se localizar não no que se escutou do que ele disse, mas no que se depositou entre os dois.
O primeiro plano, o mais evidente, que é o da transferência amorosa, do sujeito suposto saber, localiza de um lado, um pai – Freud –, e do outro, Hilda, sempre muito amorosa com aquele senhor. Freud, no entanto, aponta que o jogo entra no termo da mentira. Bassols destaca: ela está deitada e mentindo, lying, no sentindo da ambiguidade do inglês. Isso, porém, traz outro plano para o jogo: ela estava deitada, não apenas em uma transferência amorosa com o pai, mas, também, em uma transferência erótica com aquele que seria seu analista, se oferecendo como objeto na cama para ele. Então, essa é a mentira, ou o outro plano, que aparece na interpretação. Uma interpretação possível seria dizer: “você está aí, meio indiferente e tranquila e esqueceu de mim, mas esqueceu de mim porque você tem uma repulsa por seu desejo amoroso por um velho como eu”. Isso envolve uma espécie de negatividade estranha, porque não equivale a dizer “na verdade, lá no fundo, você tem desejos eróticos por mim”. Isso já faria parte de um segundo plano.
O segundo plano é o da interpretação. O plano de uma interpretação que traz algo de pulsional, não sendo apenas amor, mas, também, desejo. Só que neste plano, Freud aponta para o desejo articulado com a repulsa – um clássico na histeria. Um jogo de repulsa que evidencia o jogo de desejo.
No terceiro plano, Freud bate no divã, e como disse Jacques-Alain Miller, há algo “a mais” na batida, como se o analista estivesse produzindo uma ressonância daquilo que vai além de dizer apenas: “há um desejo erótico por mim”. Seria, por exemplo, como dizer “há um desejo erótico por mim, e mesmo que você esteja assustada comigo morrendo, eu [bate na mesa] estou aqui”.
É importante destacar que não basta traumatizar para entrarmos nesse plano. Quando Freud faz essa intervenção, ela só pode acontecer porque ele está no lugar de objeto que a transferência lhe designa: o lugar do senhor adorável e do senhor mortificado, que pode ser desejado eroticamente de forma inconsciente porque não representa nenhum risco. Então, é desse lugar, com tudo isso em jogo, que Freud bate no divã. E, talvez, seja importante bater no divã, não só porque o divã é o lugar da cama, mas porque isso marca a sua presença. Sem contar com o fato de que ele faz isso na hora exata em que quer se mostrar mais vivo e não velho e acabado.
Essa dimensão da presença do analista atravessando a dimensão “dito e dizer” da transferência e da fantasia, é muito importante. Poderíamos pensar que isso “foi um ato analítico” ou, pior, que o analista “fez um ato” porque transgrediu de alguma maneira. Bater no divã, gritar, ou fazer alguma coisa para sair do setting, nada disso, porém é garantia de que o analista se apresente como vivo, ou em outros termos, como o desejo do analista. A presença do analista, como função, como desejo do analista, se encarna quando um analista aceita se submeter aos significantes do analisante, bancando ser o objeto desse analisante, para poder, aí sim, na hora H, se tudo der certo, se apresentar como real.
Marcus André Vieira[4]
[1] Lacan, Jacques O aturdito In Outros Escritos Jorge Zahar Editor Rio de Janeiro Ed 2003 pg 449, no original: Qu’on disse reste oublié derière ce qui se dit dans ce qui s’entend”.
[2] Hilda Doolittle Tribute to Freud New Directions Publishing, 1984
[3] Cf. Bassols, M. The paradoxes of transference, disponível em
https://static1.squarespace.com/static/5d52d51fc078720001362276/t/616585eed2697c31683c7d27/1634043377909/20140215+Bassols+Transference+New+York.pdf cf. Brown, N. Intervenção no Seminário Clínico da EBP-Rio (inédito).
Sobre Grupos
De onde podemos partir para falar de grupo? Qualquer idéia de grupo em psicanálise é devedora, caudatária, da idéia de que o sujeito encerra em si uma alteridade. Cada sujeito, em certo sentido, é Outro dele mesmo, tendo uma abertura para o exterior que faz com que não exista sozinho. Homem algum é uma ilha, como dizia o título do livro de Thomas Merton.[1].
A alteridade em psicanálise se dá como uma espécie de leque: da alteridade em relação ao Outro à alteridade em relação ao objeto. São duas alteridades internas ao sujeito. Chamamos de alteridade aquilo que está ‘dentro’ do sujeito, mas nega sua essência. Podemos dizer que cada sujeito contém ‘dentro’ de si algo que nega sua interioridade. Esta é uma maneira forçada de dizer, pois, a rigor, não há dentro de si.
Podemos também dizer que com a teoria freudiana da fantasia – cujo esboço podemos situar em 1897, em uma carta a Fliess (n. 69), Freud inaugura algo que é essencial para entender a relação que cada sujeito mantém com a alteridade. É a teoria da fantasia que nos permite entender que um sujeito possa conter dentro de si um objeto que, ao mesmo tempo, é e não é ele mesmo. Só através dela podemos situar a relação que cada sujeito mantém com um objeto, e que Lacan vai expressar com a fórmula $ ◊ a. Sem essa mediação, a relação seria impossível, já que sujeito e objeto são heterogêneos, como diz Lacan em Kant com Sade.
O sujeito é uma alteridade em relação a si próprio, no sentido de que contém dentro de si duas alteridades que negam a sua essência. É por isso que o sujeito não pode ser definido essencialmente, já que nele há uma negação da sua própria essência. O sujeito é mais uma operação do que uma essência.
Um sujeito somente pode ser definido em psicanálise se for levada em conta a sua complexidade, e, principalmente a complexidade que se encerra na idéia de dentro e fora: um dentro que está fora e um fora que está dentro. Ele é, ao mesmo tempo, uma espécie de afirmação e de negação. A negação do sujeito é aquilo que funciona como alteridade.
É nesse sentido que Freud vai dizer que não existe diferença entre psicologia individual e psicologia social. Para ele a psicologia do indivíduo é a mesma do social, o sujeito tanto é individual quanto social. Ele chega a essa afirmação partindo da idéia de que o sujeito não se confunde com o indivíduo, no sentido de que o sujeito não é um corpo, que tem uma membrana que define o interior e o exterior como coisas separadas. O sujeito só é sujeito na medida em que o exterior se combina com o interior e vice e versa. O sujeito é uma operação que põe em confronto o fora e o dentro, de tal maneira que o fora é dentro e o dentro é fora – diferente da gafieira do famoso samba de Billy Blanco, onde quem está fora não entra e quem está dentro não sai. A lógica do sujeito é outra.
Os grupos artificiais freudianos
Em 1921, Freud escreveu um texto importantíssimo, ao menos para a civilização ocidental, que chamou de Psicologia de grupo e análise do eu. Em um dos capítulos usa o Exército e a Igreja como exemplos para discutir a questão dos grupos artificiais. O que é um grupo artificial para Freud? Por que escolheu o Exército e Igreja? Freud fala dos grupos artificiais como uma espécie de resultante em um sistema de forças que tem um vetor vertical, que se dirige ao chefe, e um horizontal, que se dirige ao irmão, ao camarada, ao colega, aos pares, etc.
Grupo freudiano não quer dizer que é um grupo como Freud faria, mas ganha esse nome por ser uma teorização dele. Essa qualificação do grupo como artificial é importante, pois onde se pode encontrar o seu artifício? É de certa forma não poder saber que o grupo se mantém por essa tensão entre o amor vertical ao chefe e o amor horizontal aos irmãos.
O grupo artificial é uma espécie de organização, de combinação que podemos desenhar em termos cartesianos numa linha vertical que se dirige ao Um, ao chefe, e uma linha horizontal que se dirige ao coletivo dos semelhantes, dos pares, dos irmãos, ou colegas. Todo grupo artificial se mantém nessa tensão entre dois vetores. É uma situação de tensão, mas há qualquer coisa que faz com que essa tensão não seja sentida. Imaginem o que seria do exército se, além da tensão da guerra, os soldados sentissem a tensão de estar em grupo? O que seria de um eclesiástico se a questão da autoridade do Papa o deixasse sem dormir? Impedir que se sinta essa tensão é uma das tarefas do grupo artificial.
O grupo artificial opera como tal porque ninguém que está dentro dele sabe que se trata de um grupo artificial, já que a Igreja foi fundada por Deus, está prevista portanto desde a eternidade, e o Exército é uma instituição perene que mantém a integridade do solo pátrio. Essa tensão é eliminada através do que se chama em ciência política de ideologia. A ideologia é uma espécie de pensamento que faz com que o fato do grupo se manter em constante tensão não seja percebido. Se a tensão for percebida, as coisas vão mal. O extremo desse “as coisas vão mal” aparece, no texto freudiano, na referência à famosa passagem do livro de Judith no Antigo Testamento, quando ela corta a cabeça de Holofernes e seu exército se dispersa. Essa é a demonstração freudiana: sem o chefe, o estado de tensão aparece como angústia; assim o grupo, como grupo artificial, não se mantém.
A melhor figura do chefe, tirando Deus, é o pai. Não qualquer pai, mas aquele suposto amar igualmente todos os filhos. Trata-se de um pai que recobre a contradição que existe necessariamente entre o coletivo e o indivíduo. Não é verdade que o pai ame os filhos igualmente, mas é preciso, para esse coletivo sobreviver, que haja a hipótese de que o pai ama a todos igualmente. Se o pai ama diferentemente – e esta é a tragédia de Totem e Tabu – o coletivo se dissolve, ou, pelo menos, entra em crise. Uma ideologia faria acreditar que os irmãos são amados igualmente e que é necessário que eles sejam assim amados, sob pena de que essa tensão, essa montagem tensa entre o chefe e os irmãos, seja posta em questão.
Essa montagem freudiana dos grupos exige uma consistência extraordinária da função do Um. Que não seja necessariamente uma pessoa – que seja, por exemplo, um princípio –, mas, de qualquer forma, é necessário, para esse grupo existir, que haja algo inquestionável. Nesse contexto, é o Um que garante a consistência do múltiplo e não o contrário, e é nisto que esse grupo é tão particular. Hitler, por exemplo, não devia nada ao povo alemão. Aliás, quando já não havia mais esperança de vitória, parece que ele queria que o povo alemão fosse destruído, para que algo de puro finalmente aparecesse. Se os alemães são incapazes de matar todos os judeus, que eles mesmos pereçam, pensava Hitler nessa época. Se os alemães não eram capazes de fazer uma membrana que dividisse o exterior do interior, que perecessem. Vocês estão vendo a lógica extrema do grupo que Freud teoriza criticamente? Freud não era nem militar e nem religioso, era alguém que usou a Igreja e o Exército quase como casos clínicos.
A inconsistência do Um e os pequenos grupos
Em 1939 começa a Segunda Grande Guerra, que vai até 1945. A carnificina de 1914 a 1918 já havia ocorrido na Europa. Na Segunda Guerra, a negação da relação topológica entre externo e interno é levada às conseqüências últimas, que são sempre conseqüências de sangue, de destruição de corpos.
Em 1945, um jovem psiquiatra francês, Jacques Lacan, vai à Inglaterra e conhece uma experiência de grupo que se realizava no exército britânico, de seleção dos soldados que podiam voltar ao combate. Foi a partir do seu contato com essa experiência que Lacan publicou, em 1947, um artigo importante para nós que se chama A psiquiatria inglesa e a guerra.
O texto de Lacan, apesar de não ter sido esta a sua intenção, pelo menos expressa, em um certo sentido é uma resposta ao texto de Freud, depois da Europa ter experimentado esse retorno topológico, essa tentativa desesperada de separar o dentro do fora, resultando em sangue. A destruição da Europa seria a lógica última do texto freudiano. É como se Lacan dissesse a Freud: “olhe o que pode acontecer se sobrevivemos ao que você está apontando – isso é, a hegemonia do Um sob a forma do nazi-fascismo –, olha de que poderemos dispor”.
Enquanto critica duramente a França, Lacan diz que a Inglaterra manteve sua dignidade. No caso, manter a dignidade era fazer com que um coletivo pudesse subsistir sem a garantia física do Um. A Inglaterra estava liquidada, estraçalhada, bombardeada, sem condições de obter que o Um indicasse alguma direção. Os pequenos grupos da psiquiatria inglesa são de certa forma uma antecipação, como toda sobrevivência é uma forma de antecipação. Você organiza hoje algo que só vai ganhar a sua razão de ser depois de mudadas as condições que fizeram com que a experiência fosse feita. Da crítica freudiana à experiência lacaniana há um percurso extraordinariamente importante na história da psicanálise.
A idéia lacaniana não é ingênua do ponto de vista da democracia, e muito menos é um protesto histérico contra a hegemonia do Um. É uma maneira de tirar conseqüências desse quadro que foi descrito por Freud em 1921. Só um gênio como Freud poderia montar as conseqüências últimas do que estava acontecendo na Europa, e do que ocorreria alguns anos depois.
A verdade e o real
Lendo com cuidado o texto de Lacan, percebemos uma análise rigorosa da situação francesa. Eric Laurent observa que nessa época, em 1946, logo depois da guerra, ainda não havia o mito da França resistente, que foi uma invenção do general De Gaulle. Foi uma minoria que resistiu, como em qualquer lugar. Então o que Lacan chama de ideologia inglesa se caracteriza como “uma relação verídica com o real”. Uma relação na qual verdade e real se articulam, ao invés de se oporem. Isso tem tudo a ver com que eu estava dizendo até agora. A proposta de Bion visa articular verdade e real para que o real não seja representado pelo imperativo de gozo do supereu. É nesse sentido que é realista e é combatente.
Retomando “Psicologia coletiva e Análise do Eu“. Há na linha vertical uma relação com o chefe e, na horizontal a relação entre irmãos, pares, colegas, companheiros, como se queira. É esta articulação entre o vertical e o horizontal que faz com que o grupo tenha uma relação tensa, mas que possa permanecer, possa durar. Se o general perde a cabeça, a tropa se dispersa. Esta é a lógica da psicologia coletiva. Se o S1 não responde, ocorre a dispersão, justamente porque não se apresenta nenhuma dimensão para sintomatizar a ausência do Outro. Isso pode ser estruturado como o discurso de Lacan: se o S1 não se mostra capaz de galvanizar os coletivos, não se apresenta um sujeito do sintoma, então há a dispersão do coletivo. Isso é elementar em política. É nessa relação tensa entre a dimensão do amor vertical ao chefe e a horizontal, do amor, do cimento entre os iguais, que a estrutura da psicologia coletiva freudiana de 1921 pode se manter tensamente, mas pode durar nesta articulação. Vocês podem estruturar isso como o discurso do mestre.
Se o S1 entra em falência, se o general perde a cabeça, a única saída possível é a dispersão dos coletivos? Esta é a pergunta de Bion. Será que há uma saída, dada a dificuldade dos grandes significantes mestres, que não seja a dispersão pânica dos coletivos ou a ordem de ferro superegóica? A margem de manobra não é muito ampla, é estreita. Laurent observa que Bion vai apostar nessa dimensão horizontal e, com isso, cria um primeiro exemplo, para nós pelo menos, do que vai poder inspirar Lacan na idéia dos cartéis e secundariamente na da Escola – isso que eu chamo, meio brincando, de sociologia lacaniana.
Se pensarmos na falência do S1, não como uma crise de guerra, mas como um fenômeno da civilização, veremos que isso vai exigir muito mais da estrutura dos pequenos grupos. Vai exigir maior consistência e durabilidade mais longa que o tempo de uma guerra. Se é verdade que nossa civilização se caracteriza por uma não-resposta do Outro, pela inexistência do Outro, é preciso que haja grupos que saibam manejar a ligação horizontal entre os iguais. É preciso uma nova estruturação simbólica que não parta da adesão de cada um ao chefe, mas da ligação horizontal entre os iguais sem que seja pela via de um ‘todos iguais’, que tende a restabelecer o Um sob a forma do pior – seja pela democracia de massas, do consumismo, seja pela dimensão do império do supereu, de ordens insensatas.
Tento mostrar uma diferença entre o que seria o uso dessa dimensão horizontal sem a ilusão do clã fraterno de Totem e Tabu, ou seja, o clã que só dura até o momento em que um dos irmãos diz: “O gozo do pai vai ser meu“, momento em que se dissolve. Esta é a instabilidade da dimensão horizontal. Ela não resiste à reivindicação de gozo feita por um dos iguais. É por isso que o ‘todos iguais’, em um pequeno grupo como o cartel ou um grande, tende a uma certa recuperação do universal.
Sabe-se que Bion e alguns outros propuseram pequenos grupos que funcionavam mais ou menos autonomamente, em uma formação mínima para uma situação de desespero do Um, se posso dizer assim. Desta forma, alguém na Inglaterra disse “não!” à fatalidade de que quando o general desaparece as tropas gritam “salve-se quem puder”. É possível no declínio, na falta do general, em uma certa desmoralização do Um, formarem-se grupos relativamente autônomos que mantêm a dignidade do social. Esse é o elogio que Lacan faz aos ingleses. Eles foram capazes de manter a dignidade do social numa situação totalmente adversa.
Poderíamos dizer que, nesse texto de Lacan, há um elogio à iniciativa de formar grupos quando existe uma falha no S1 (um de seus termos para formalizar a função do líder). Digamos que o S1 como chefia estava fraco, uma vez que a Inglaterra estava numa situação de derrota militar até aquele momento. O S1 não podia ser representado fisicamente. Talvez um pouco mais tarde, com Churchill e outros, teremos os grandes homens que vão inicialmente levantar os países derrotados e em seguida reconstruir a Europa no pós-guerra. Há uma lógica nesse movimento que foi a maneira encontrada pelos ingleses de manterem uma consistência horizontal, sem necessariamente fazerem o apelo ao Um muito consistente, fisicamente, na figura do chefe. Os pequenos grupos de Bion são uma invenção democrática: isto quer dizer, precisamente, no contexto da guerra na Europa, que era preciso se pensar a lei sem que tenha necessariamente o corpo de um chefe.
Pequenos grupos
Grupo tem mais de uma direção, mais de um caminho. Podemos pensar os grupos a partir das terapias grupais que, sem dúvida, tiveram sua origem ligada aos fenômenos da sociedade de massa. A criação das terapias grupais tem a ver com o extraordinário avanço democrático das massas, ou seja, a chegada das massas a um grau inédito na história, tanto na política, ou seja, democracia pura e simples, quanto na economia – para citar um exemplo, o consumo de massas. Então, essa espécie de massificação, que caracteriza a nossa democracia contemporânea de uma forma sem precedentes, parece ter alguma ligação com a idéia de que, primeiramente, é possível terapeutizar os grupos e, em segundo lugar, é interessante terapeutizá-los dentro de uma ideologia muito próxima do “time is money”.Haveria certos tipos de vantagens em abranger um grande número de pessoas em um menor espaço de tempo. Digamos que é a versão capitalista da idéia de que os grupos são terapeutizáveis, ou seja, são sujeitos ao tratamento terapêutico como grupos.
Temos de um lado as terapias de grupos, e, de outro, as formas de organização coletivas características da época do Outro que não existe. Atualmente temos, como tendência, – que não é isolada do fenômeno democrático de massas que caracteriza o Ocidente hoje, e não só ele –, formas de organização, de agrupamento, que não existiam anteriormente. Neste sentido, o comunitarismo é uma tendência contemporânea de formação de identidades a partir do pertencimento a uma comunidade cujos membros se reconhecem entre eles e estão também do lado dos outros grupos numa certa estruturação. Essa tendência atual talvez exigisse de Freud uma reformulação da idéia que ele tinha do narcisismo das pequenas diferenças. Talvez a fronteira que Freud traçou não fosse exatamente a mesma de hoje, dado que o que constitui de certa forma a lógica do texto em 1921, “Psicologia coletiva (ou dos grupos) e análise do eu” é essa espécie de agrupamento circundado por uma membrana que faz fronteira com o mundo absolutamente exterior. Podemos ver no comunitarismo que há uma espécie de interpenetração de várias comunidades, de forma que, quando se trabalha, pertence-se a uma, quando se está em casa, pertence-se a outra, quando se estuda, pertence-se a uma terceira. Existe uma espécie de interpenetração que é diferente do que Freud dizia, por exemplo, do português que se opõe ao espanhol de tal maneira que é sendo oposto ao espanhol que ele se define como português. Esse é um dos exemplos que Freud usa quando trabalha o narcisismo das pequenas diferenças. Aliás, no escrito “A psicanálise e seu ensino“, Lacan diz que o que Freud chama de narcisismo das pequenas diferenças, deveria se chamar de “terrorismo conformista”.
Em relação aos grupos há, portanto, essas duas direções que são típicas de nossa época: a tendência à multiplicação de terapias grupais a partir da idéia de que um grupo como tal pode se submeter a uma terapia; e, do outro lado, o avanço das novas formas de organização coletiva que são bem próprias da nossa época. Os exemplos dessas novas formas são o comunitarismo, as novas formas de seitas, que são bem diferentes das seitas trabalhadas por Ernst Troeltsch e Max Weber no final do século XIX. Max Weber se aproxima um pouco do que Freud pensava no narcisismo das pequenas diferenças, no sentido em que ele tratou do que hoje nem se chamaria de seita, a Igreja Batista. Weber a tratou como uma metonímia da Igreja, como alguma coisa que se destaca da Igreja. Hoje em dia não seria a única forma de se criar uma seita, há seitas que se organizam ao redor de um chefe ou de um hábito de vida (alimentar, sexual, laboral…) sem relação metonímica com aquilo que seria uma igreja com pretensão universal, como a católica.
Temos, então, o comunitarismo, as seitas e os grupos sintomáticos dos quais o Orkut e a internet estão cheios, neste não se precisa de sintomas sérios. “Eu odeio Galvão Bueno” poderia ser um grupo sintomático. As pessoas se reúnem em torno do ódio a Galvão Bueno, ou “Eu amo Galvão Bueno”. É uma certa organização a partir de um traço, é isso que é característico da dispersão democrática da nossa época. É possível fazer agrupamentos a partir de traços bastante discretos e isso, não obstante, constituiu um grupo perfeitamente bem formado, que tem uma certa duração e um certo funcionamento.
As terapias grupais seriam o correspondente psi, a resposta psi para os fenômenos de massificação. Seriam o correspondente dos fenômenos de massificação democrática que se encontram, nos dias de hoje, na política, na democracia propriamente dita – capitalista e basicamente ocidental – e na economia. O maior exemplo talvez seja a estrutura do consumo. Na produção poderíamos achar outra coisa, mas no consumo me parece mais evidente. Não é somente por ironia que digo que as terapias grupais correspondem a um certo uso do “time is money”: elas são uma espécie de otimização que somente é possível de ser pensada se tratarmos o tempo como mercadoria. Se quisermos nos aprofundar nisso, podemos estudar as grandes teorias do final do século XIX que lidam com a administração. O taylorismo e o fordismo no século XX, por exemplo, demonstram como é que se otimiza a produção dando um novo tratamento ao tempo. O tempo passa a ser um elemento concreto na produção da mercadoria, a tal ponto que se torna ele próprio uma mercadoria: este é o sentido mais apropriado da expressão “time is money”. Não quer dizer apenas que não podemos perder tempo, mas também que o tempo, como tal, pode ser tratado como mercadoria. Ele pode ser mensurado, quantificado como qualquer mercadoria. E o tempo tem uma moeda padrão a ser definida.
Do “time is money” ao Realismo de Combate
O texto de Laurent “O real e o grupo“, discute algo interessante para nós. A partir de um comentário do texto de 1946, de Lacan, “A psiquiatria inglesa e a guerra“, Laurent se detém um pouco no realismo em que Lacan se situa, pois ele se situa numa posição realista. Essa posição exigia, na época, uma certa coragem já que o realismo – Laurent explica – era o argumento dos colaboradores do nazi-fascismo. De modo que Lacan, se filiando ao realismo, exige ser bem entendido, numa época em que as feridas ainda estavam abertas, pois havia um ano que a guerra havia terminado.
“Realismo de combate” é a expressão que Éric Laurent usa. Será que poderíamos aproveitar essa expressão? Por exemplo: realismo de combate poderia inspirar alguém do Digaí-Maré a defender a idéia de trabalho em grupo. Como se faz uma terapia ou um tratamento clínico em grupo sem que seja simplesmente sob a estrita forma do “time is money”? Esta seria uma maneira de trabalhar dentro de uma perspectiva lacaniana, dentro do realismo de combate proposto por Lacan em 1946. E combate requer um inimigo – o que, aliás, caracteriza o texto de Bion, que será comentado posteriormente.
O realismo de combate supõe uma falência das grandes utopias. Diante de uma grande utopia, você não precisa ser realista. Aliás, quanto mais se é realista, pior. O realismo de combate se torna necessário se você está fora das grandes utopias universalizantes. O realismo de combate é alguma coisa que, como se diz do diabo, está nos detalhes. O realismo implica um certo pragmatismo, um certo julgamento detalhe por detalhe, diferente da justificativa universal de uma grande utopia. Por exemplo: tudo que eu faço serve ao socialismo, ou tudo que eu faço serve à raça branca. Trata-se de uma grande justificativa ideológica, universal, que pode ser aplicada a qualquer comportamento. A grande utopia não precisa desse tratamento de detalhe, que vigora justamente quando faltam grandes princípios e orientação universais. A Inglaterra estava arrebentada, estava se reorganizando para poder fazer o último esforço de guerra que a levaria à vitória. Assim, aos psiquiatras e psicanalistas ingleses – Bion e Richmann, por exemplo – só foi possível propor uma reação a partir justamente da descentralização. Não necessariamente por um gosto democrático, o que os aproximaria das utopias, mas pelo simples fato de que o Outro não respondia. Há um significante mestre que não responde, como os nossos atuais telefones: o número chamado não responde, pode deixar a sua mensagem na caixa postal.
Não é à toa, observa Laurent, que Lacan associa realismo ao heroísmo. O realismo é algo às vezes pejorativo – se, por exemplo, digo que fulano é realista, isso pode significar que ele é oportunista, que ele topa qualquer negócio, bastando que tenha algum ganho. Contrariamente a essa idéia, Lacan associa o realismo ao heroísmo. Ser realista, nessa época, era uma forma de heroísmo no sentido de que era uma proposição que visava provocar efeitos numa situação em que as iniciativas tinham que ser dispersas. Pode-se ver o nascedouro mais remoto da idéia do cartel. A idéia de que é possível uma produção interessante para um grande coletivo – para a Inglaterra ou para a Escola – a partir de um trabalho disperso e plural, pois um cartel não tem nada a ver com outro; eles podem, no mesmo momento, discutir assuntos bastante diferentes. É possível que essa falência dos grandes ideais seja provisória, mas, enfim, é uma crise dos nossos tempos, que já existia na época da Segunda Guerra Mundial.
Estou tentando margear o texto “O real e o grupo” de Éric Laurent. Diante de alguma dificuldade nos significantes mestres, de uma certa crise no Outro, no Outro universal – crise religiosa, política, democrática, econômica… enfim, uma crise nas grandes unidades –, há muitas maneiras de se criarem respostas múltiplas e diversas. A resposta de Bion e Richmann, e do cartel de Lacan, são exemplos, mas podemos pensar igualmente nas terapias grupais e no princípio do “time is money“, podemos pensar na ideologia democrática do “são todos iguais”. “São todos iguais” é uma maneira de se retomar o universal. A discussão de Lacan é precisamente essa: qual é a alternativa democrática ao “são todos iguais” que é o nosso correspondente do “time is money” e das terapias grupais fundadas na otimização do tempo e da produção? Essa me parece que está nos fundamentos do trabalho de Lacan de 1946 e também, claro, no trabalho do próprio Bion.
Será que é possível pensar em pequenos grupos que teriam a tarefa de preservar singularidades? Esta indagação interessou a Bion, e sem dúvida terá ocorrido também a Lacan. Será que é possível uma alternativa em que a singularidade, mesmo sintomática, possa ser preservada? Essa é uma pergunta que o “time is money” como princípio não tem condições de responder. Então se vê que Lacan insiste na importância dessa proposta e dessa prática de Bion que não interessaria somente à saúde mental ou à psicanálise, mas a toda a sociedade, como diz Lacan no texto de 1946. Isso é discrepante com a ideologia das terapias em grupo que visam o universal.
Podemos dividir aí estratégias clínicas de grupo. Podemos pensar nessa estratégia bem própria do “time is money”, da otimização e do aumento do número de pessoas atendidas num menor período de tempo possível, sendo uma espécie de correspondente psi do taylorismo, do fordismo e das grandes teorias da gestão industrial no Ocidente.
Voltemos à idéia de que o grupo em si é multiforme. Existe mais de uma maneira de pensarmos para que serve, como estruturar, em quê medida é justo e é útil o funcionamento em grupos. Isso interessa ao Digaí-Maré intimamente, inclusive para seu próprio funcionamento. A partir disso, poderíamos distinguir as terapias grupais do “time is money”, isso é, uma otimização democrática do uso do tempo, de um manejo de grupos no qual não se tenha que abrir mão do que caracteriza o sujeito propriamente: a sua singularidade, que não é a mesma coisa que individualidade – sobre o que Lacan insiste desde sempre.
Dá para entender essa dupla porta de saída? Terapias grupais “time is money“, de um lado, e, do outro, experiências clínicas em grupo a partir da insistência na singularidade. A idéia de produtividade é completamente diferente. Nas teorias grupais do “time is money” trata-se de uma espécie de taylorismo, de fordismo, das grandes teorias da gestão capitalista. Foi feito para isso, não é culpa de ninguém. Então, a pergunta de Lacan que é também a nossa, e do Digaí-Maré, é se é possível o acesso clínico dos grupos sem que seja através de uma espécie de otimização da produção.
Esse panorama geral faz com que a discussão se dê no seguinte plano: há uma clínica de grupos que não se pauta pelo universal. Há algumas décadas isso seria uma contradição em termos. Com Lacan isso talvez não seja uma contradição em termos. É por esse motivo que, quando se fala em grupos, é necessário dizer sobre o quê se está falando.
A “impotência neurótica” de BionO texto de Bion sobre as tensões internas tem um ponto que me interessou muito. Trata-se de uma frase que se encontra na apresentação, na segunda divisão do texto. Ele está falando dos grupos que vai formar: “Sem dúvida era preciso prever que algumas das atividades organizadas nesse espaço fossem militares, outras civis”. Parece existir uma espécie de dramatização desses grupos, uma espécie de reprodução em miniatura do funcionamento do mundo. Mas o que mais me interessou vem agora: “Atividades militares, atividades civis e outras ainda que fossem a expressão da impotência neurótica dos doentes”. O que caracterizava os grupos de Bion, portanto, era a proposta de atividades precisas que se subdividiam em:
1. atividades militares
2. atividades civis
3. atividades neuróticas (Risos)
Não é interessante? Vocês riem porque as atividades neuróticas, em geral, não estão no mesmo plano das civis ou militares. O mundo não se divide entre militares, civis e neuróticos, justamente porque há neuróticos que são militares e outros que são civis. Então, não se pode dividir essas atividades em três categorias, sendo que uma das quais é completamente diferente das duas outras. Se aqueles que são militares deixam de ser civis, não é por isso que deixarão de ser neuróticos. Vê-se que há uma ruptura, há algo discrepante. O que me pareceu mais genial foi a idéia de propor três tipos de atividades onde uma não tem nada a ver com as outras duas. A impotência neurótica dos doentes não diz nada sobre as forças armadas e nem sobre a sociedade civil. E, no entanto, Bion escreve como três tipos de atividades propostas para os pequenos grupos. Parece que a pedra de toque, o traço genial desses pequenos grupos foi, por um lado, fazer um grupo como o mundo inteiro, entre militares e civis, no plano das atividades, mas incluindo, por outro, no coração dos grupos, a dimensão sintomática. Se você inclui dentro dos grupos a dimensão sintomática, ao que tudo indica, você rompe com o “time is money”.
Já não se pode dizer que o mundo é composto universalmente de militares e civis, porque há uma dimensão que descompleta esse universal e que se chama “os neuróticos”. Não é uma beleza? Bion pensou nisso de tal maneira que o universal não precisava dos neuróticos, o mundo de fato se divide em militares e civis. Há aí uma espécie de paradoxo que ele inventou e que é muito bonito. A gente diz que todo mundo que não é militar é civil. Neste ponto ele diz que não, não é verdade: existem as atividades civis, as atividades militares, e existe além delas uma fonte de ruptura dessa complementariedade, que se chama o sintoma. É a partir disso que Bion pode propor atividades que não negam os rateios, as dificuldades, os tropeços da neurose, porque há atividades propriamente neuróticas, para os militares e para os civis.
Parece-me que no texto de Bion já existe uma idéia de como um grupo que tende ao universal pode ser descompletado. E o que é o universal? O universal da humanidade é o somatório dos militares e civis: os que não são militares são civis. Somando-os, temos a humanidade. Não há ninguém que não seja nem militar nem civil, porém são descompletados pela dimensão sintomática. Este é o traço que permite que um pequeno grupo não seja universal. Deve-se lembrar que o fato de o grupo ser pequeno não quer dizer que não seja universal. O fato de ter uma dimensão que descompleta o somatório é o que assegura que não seja universal. A dimensão sintomática racha com a inteireza do somatório de militares e civis.
Podemos ver que essas atividades baseadas na impotência neurótica dos doentes se espalham. Podemos ter uma atividade neurótica na ordem unida dos quartéis, ou na tarefa de cozinhar ou fazer um memorando, ou qualquer coisa assim. Essa divisão, ainda que talvez não seja nisso que Bion estivesse pensando diretamente, está inteiramente de acordo com o que podemos chamar de “sociologia lacaniana”. A “sociologia lacaniana” possui um elemento que descompleta o universal, daí a Escola, o cartel, o passe e etc.
RegulamentosHavia um regulamento preciso, afinal esses grupos eram feitos para militares, porém há um fundo irônico porque cada ordem, cada exigência do regulamento, é furada. O regulamento seguinte foi comunicado aos cem homens que compunham o serviço:
1. Todos os homens são obrigados a fazer uma hora de exercício físico por dia, salvo se apresentarem um certificado médico (os itálicos são meus);
2. Todos os homens devem aderir a uma ou a várias das seguintes atividades:]
– trabalhos manuais; cursos de correspondência organizados pelo Exército; marcenaria; cartografia; construção de maquetes etc…
3. É permitido a cada homem formar um novo grupo, seja porque não existe ainda o tipo de atividade que ele deseja, seja porque, por uma razão qualquer, é impossível para ele aderir a um dos grupos já existentes.
4. Todo homem que não se sinta em condições de assistir as reuniões do seu grupo deve se dirigir à sala de repouso.
É um texto irônico, e Lacan foi sensível a esta dimensão. Podemos observar que a redação de Bion é muito esclarecida. Ele usa essa articulação dos três tipos de atividades fazendo com que a dimensão neurótica dos soldados seja levada em consideração na própria distribuição das tarefas. O regulamento já inclui a impotência neurótica: você é obrigado a isso, salvo se não quiser ou não puder (Risos).
Se o Outro universal não responde, qual é o risco que correm os sujeitos? É de que os imperativos sejam superegóicos, sejam puros imperativos de gozo. Esse é o sintoma da falência do Outro, ou dos significantes mestres, dos princípios universais. A correção: se Deus não existe, nada é permitido, e não tudo é permitido. Lacan discute essa afirmação. Se nada é permitido, significa que tudo será feito a partir do imperativo do supereu. A ironia bioniana, o realismo de combate em termos lacanianos, é uma maneira de ir contra o império do supereu, que é a alternativa aos significantes mestres quando estes estão em falência. Podemos observar isso nas guerras, em pequenos e grandes grupos.
Reintroduzir a dimensão sintomática nessa grande divisão da humanidade entre civis e militares significa combater o supereu como imperativo de gozo, como um “goza!” sem sentido. Este é o imperativo superegóico no momento em que o Outro não responde, ou seja, quando uma utopia universal não responde. O primeiro efeito disso é o império do supereu como objeto. Se vocês lerem “A banalidade do mal” de Hannah Arendt, quando ela descreve Adolf Eichmann, terão exatamente a idéia do que significa o supereu como legislação, e vão lembrar que Lacan definiu certa vez o supereu como “lei insensata”.
Continuando com Bion:
5. A sala de repouso ficará a cargo de um enfermeiro militar e deverá ser mantida tranqüila para a leitura, a escrita ou jogos silenciosos como o jogo de damas.
6. O enfermeiro poderá autorizar conversas em voz baixa sob a condição de que os outros doentes não sejam incomodados.
7. Os doentes excessivamente cansados para se dedicarem a alguma atividade encontrarão espreguiçadeiras onde poderão se deitar.
Todas as frases carregam uma espécie de remodelação na linha seguinte. Bion começa com a pura obrigatoriedade militar do ‘para todos’ e de repente cada universal tem uma modulação que é a introdução da dimensão neurótica no regulamento militar. Fiquei realmente encantado com esse texto, justamente com a idéia de que um pequeno grupo deve introduzir, em sua própria legalidade, a dimensão sintomática. É isso que evita que a alternativa dada à falência do Outro seja o império superegóico, o domínio do imperativo do gozo, o supereu na sua dimensão de objeto.
É possível entender essa dimensão ou essa forma de organização que estou chamando de irônica como um combate pela civilização. Nos grupos de Bion, e certamente na estrutura que Lacan vai pensar vinte anos depois para a Escola, existe a idéia de que há uma estrutura de combate, para usar o termo de Laurent. Há algo de militar, introduzindo o que há de impotência neurótica dos doentes.
Vejam uma frase forte de Laurent que tem tudo a ver com isso: “Se a psicanálise é apresentada na sua dimensão de eficácia social, – como algo eficaz socialmente -, é na medida em que ela é instrumento de luta contra a morte, a morte que está em processo na civilização”. Podemos fazer uma linha que vai do grupo de Bion até o Digaí-Maré, no sentido de que se propõe uma alternativa contra a morte na e da civilização. Parece algo meio grandioso, mas é como o diabo, é no detalhe que está a chave.
Da Escola de Lacan
Laurent propõe uma aproximação essencial entre os grupos de Bion e o “cartel”. O cartel é um pequeno grupo de trabalho, sem líder, voltado sobretudo para o estudo e elaboração de textos, mas igualmente para realização de pequenas tarefas que Lacan , coloca na base da instituição criada por ele, a Escola. Se é verdade que os pequenos grupos de Bion são ancestrais do cartel lacaniano, pode-se dizer que a Escola de Lacan descende do cartel.
Deste ponto de vista, o “Ato de fundação da Escola Freudiana de Paris”, de 1964, em que Lacan define o cartel, é um texto canônico, pois é a conseqüência, a formalização institucional, do que talvez tenha começado como uma intuição na visita de Lacan à Inglaterra. A forma grupal proposta por Lacan com o termo Escola seria o desdobramento institucional da idéia de que é possível haver grupos relativamente autônomos que possam trabalhar para um Um que não precisa necessariamente ser corporificado.
O inovador na proposta de vocês do Digaí parte deste ponto. Vocês buscam o outro lado deste desdobramento, o lado clínico do tema do pequeno grupo, a partir do cartel.
Se a primeira perna da Escola é o cartel, a outra é o passe. É mais uma experiência criada por Lacan para ver como readmitir uma exterioridade. Uma análise que se faz na confidência, como pode ela retornar ou se dirigir ao coletivo? É uma pergunta difícil, que só pode ser respondida um a um. Não se pode fazer uma regra geral para esse retorno. É por isso que a transmissão dos passes se dá sob a forma de testemunhos. Testemunho quer dizer: aquilo que eu disse e que ninguém nunca vai dizer igual.
A orientação lacaniana e o passe servirão para isso, servirão para que alguém consiga ter uma função na Escola evitando as cisões entre os grupos.
Para que o funcionamento do grupo seja possível sem a referência direta ao Um sob a forma de um corpo, é preciso que o grupo tenha um ponto de fuga, que mostra sua precariedade. O que Lacan aprendeu com os grupos ingleses vai funcionar nos cartéis e vai funcionar no passe. Quem vai dar o seu testemunho no passe é ao mesmo tempo um sujeito que vai falar da sua análise a partir de um ponto externo – muito do que terá a dizer não é “coletivizável” -, e ao mesmo tempo se endereça ao coletivo e em parte foi até inspirado pelo coletivo.
O passe e os cartéis, pelo menos idealmente, são uma forma de tratamento permanente da Escola, se tenho razão em pensar que são duas subestruturas lacanianas que levam em conta um ponto de fuga que não é o bode expiatório. Uma forma de tratamento da Escola, no sentido de que a Escola somente subsiste, como se dizia na minha geração, como luta permanente.
A Escola quer ser mais do que uma instituição de formação de psicanalistas. Nela está contida uma crítica ativa, prática e teórica ao funcionamento social como tal. A Escola é um comentário vivo sobre a democracia, se posso me exprimir assim; é uma instituição que exige a democracia, por ser logicamente posterior ao assassinato do Pai, porém sem se iludir com a igualdade dos irmãos na lógica de Totem e Tabu. A Escola é posterior ao assassinato do pai, sem que com isto signifique a igualdade dos irmãos e o puro domínio da justiça distributiva, que, como vocês sabem, é uma coisa da qual Lacan vai falar criticamente. É uma proposta político-institucional que se coloca num patamar acima do clã fraterno de Totem e Tabu, sem a ilusão de que a família seja um paraíso.
E por que a família não é um paraíso? É porque o coletivo dos irmãos depende da criação de um bode-expiatório. Eu gosto dos meus irmãos se nós dois juntos nos unirmos contra um terceiro. Nós somos três amigos; um vai pra casa e os outros dois ficam falando mal daquele que saiu. A relação entre esses dois depende de criticar o terceiro, que no entanto todos amam. E se amanhã falo com esse terceiro, “pau” no segundo. Isso é uma lógica que faz com que um coletivo somente subsista se tem um ponto de exterioridade, o que é de fundamental importância. O ponto de exterioridade, por exemplo, de Hitler, eram os judeus. “O Ocidente está ameaçado pelos judeus”: não pelos judeus propriamente, mas pelos judeus do delírio de Hitler, que se teriam apossado de todo o saber e de todo o dinheiro, e estão ameaçando a existência do povo alemão: que sejam exterminados, então. A lógica implacável será: mortos os judeus, teremos que matar os alemães. Esta lógica não pára, ela devora os próprios filhos, como dizia Trotsky da revolução.
A Escola não é natural. Natural é o grupo com liderança. A Escola é um efeito de interpretação, enquanto que o grupo é natural. E às vezes a interpretação precisa ser feita várias vezes. Será que não era isso o que estava atrás da proposta do Miller em Turim quando falou da Escola como sujeito? A Escola como sujeito é aquela capaz de fazer sintoma dos seus pontos de exterioridade. É aquela capaz de oferecer um sintoma às suas alteridades.
* Este texto resulta de uma edição realizada por Marcus André Vieira de duas conferências apresentadas para o coletivo de trabalho do Digaí-Maré nos dias 29 de março e 17 de maio de 2007 (transcrição: Leandro Reis e revisão: Tatiane Grova). Agradecemos a Romildo por ter gentilmente aceito que inúmeros desenvolvimentos tenham sido deixados de lado neste texto em prol da concisão.
[1] As referências para o que segue são: LAURENT, E. Lo real y el grupo. In: CUCAGNA, A. R.. Ecos y matices en psicoanalisis aplicado. Buenos Aires: Grama Ediciones, 2005. O estudo pelo grupo de suas tensões internas” BION, W.R. Experiências com grupos: os fundamentos da psicoterapia de grupo. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1970. Apresentação: Tensões intragrupais na terapêutica, p.3-18., onde Bion explica a montagem dos pequenos grupos no exército. “A psiquiatria inglesa e a guerra“, publicado em 1947 (Ref.: LACAN, J. A psiquiatria inglesa e a guerra. In: Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003.) Vamos nos apoiar nessas referências, além da “Psicologia de grupo e análise do eu” de 1921. Finalmente, há a Proposição de 1967, em que Lacan propõe que o termo Massen, que faz parte do título do texto de Freud, seja traduzido – naquela época, ou seja, final dos anos 60 e início da década de 70 – como grupo, de modo que ficaria: “Psicologia dos grupos e análise do eu”.
O sentido e os seus dejetos
“… a fantasia da Amazon é ter certeza de que a falta será saturada por um objeto do mercado global, que estará tão acessível a todo momento, quanto o saber na internet”[1].
I
Talvez a expressão mais usual para definir a função do analista, pelo menos no nosso meio, seja a de objeto, ou de “semblante de objeto”. O analista faz semblante de objeto.
Ou seja, o analista é aquele cuja presença torna possível que surja em cena, ou na cultura, o objeto, mas de certa forma transformado pela vestimenta do semblante. Penso que essa função de semblante atinge, aliás, não somente o objeto, mas também outras funções que se manifestam em uma análise, como de Outro, ou mesmo de sujeito.
Existe, como se pode ver, uma certa tensão na expressão, entre o objeto, – o objeto desnudo, digamos assim, mesmo que seja hipotético -, e seu caráter de semblante. Esta tensão pode, naturalmente, se manifestar com uma coloração afetiva, como nos mostrou nossa colega argentina Silvia Salman há alguns anos, no seu testemunho de passe.
Silvia defrontou-se, já para o final da sua análise, com um objeto, no caso representado pelo analista, que parece corresponder a esse súbito desnudamento: ela lhe deu o nome de “objeto estranho”, denominação oportuna, meio à la E.T.A. Hoffmann, que insere esse objeto na categoria freudiana do Unheimlich, traduzido em português por infamiliar. É um objeto que surge, não de uma acumulação progressiva de experiências, mas de repente, como na situação contada no texto freudiano, do senhor que irrita Freud ao irromper na cabine do trem onde Freud se encontrava, e que, após alguns segundos, é reconhecido como sendo ele próprio, Freud, cuja imagem lhe fora devolvida por um espelho[2].
II
A língua, assim como as experiências científicas, as relações sociais, ou mesmo uma escolha qualquer feita por alguém, têm algo em comum: todas produzem dejetos, entendidos aqui como seus resíduos finais, depois de cumpridos seus processos de produção.
Quando perguntamos, portanto, de onde vem tal vocábulo, e citamos tal termo grego ou latino, talvez tenhamos a impressão de que se trata de um processo direto, ou evidente. Na verdade, as palavras se formam ao longo de uma história tortuosa, cheia de encontros surpreendentes e de mudanças nos seus significados, o que faz com que nunca possamos ter, na prática, uma certeza absoluta de que tal palavra da nossa língua se origina realmente ou completamente de tal vocábulo latino ou grego, por mais que se pareçam formalmente. Ou então, uma palavra antiga, primitiva, pode ter dado origem a um conjunto extenso de outras palavras, que aparentemente não têm nenhuma relação semântica entre elas. Basta pensar no verbo latino fari, que, além de significar falar na nossa língua, deu origem a outras palavras que são distantes do sentido original: infante, nefasto, e tantos outros.
As palavras, assim como a própria língua no seu conjunto, estão sempre em movimento ao longo do tempo, e vão deixando restos que não são aproveitados explicitamente na produção do sentido. Ou até mesmo conduzem para um sentido oposto ao original. Lembro que na primeira leitura que fiz do Unheimlich freudiano, o que mais me impressionou foi o fato de duas palavras opostas, que em princípio deveriam excluir-se, pudessem significar a mesma coisa: heimlich e unheimlich.
O sentido, portanto, não recobre inteiramente a palavra. A rigor, ele é apenas um dos seus aspectos. Se recobrisse, não existiriam, para citar só dois exemplos, estas importantes produções da língua: a poesia e a ironia, que são maneiras de fazer vacilar a estreiteza do sentido. Em consequência, tampouco haveria o diálogo psicanalítico, que se dá em um espaço no qual se confrontam em permanência o sentido e os seus dejetos.
Em seu texto que chamou de A salvação pelos dejetos, Jacques-Alain Miller nos explica:
“…a descoberta freudiana (…) foi, como se sabe, primeiramente, a desses dejetos da vida psíquica, os dejetos do mental que são o sonho, o lapso, o ato falho e mais além, o sintoma”[3].
E, mais para o final do artigo, Miller define o analista de uma forma que me parece definitiva:
“O que os salva (…) é ter tido êxito em fazer de sua posição de dejeto o princípio de um novo discurso”[4].
Esse novo discurso, chamado por Lacan de discurso do analista, é a maneira de tornar possível um laço social que inclua o dejeto.
Se Miller diz que o analista teve êxito nessa operação de “fazer de sua posição de dejeto o princípio de um novo discurso”, é porque outros, sabendo ou não, fracassaram. Quer dizer, em outros momentos da História, ou mesmo agora, houve e há irrupções do objeto como dejeto da fala. O que há de particular – talvez inédito – no trabalho do analista, é ter incluído essa irrupção em um laço social. Esta é a grande novidade trazida pela psicanálise.
Em outras palavras, o dejeto, se por um lado é incompatível com o sentido, passa a ser, por outro, um componente necessário ao discurso.
Romildo do Rêgo Barros (EBP/AMP)
Presidente do XXIV Encontro Brasileiro do Campo Freudiano
*Trabalho para a reunião preparatória do Encontro Brasileiro em 13/05/2021, em mesa (online) com Marcus André Vieira.
[1] LAURENT É., “Gozar da internet”. Disponível em: http://www.revistaderivasanaliticas.com.br/index.php/gozar-internet#:~:text=%C3%89ric%20Laurent%20%E2%80%93%20A%20internet%20transforma,portanto%20a%20todas%20as%20coisas.
[2] FREUD S., “O estranho”. Obras Completas. Vol. XVII, p. 309, Nota 1.
[3] MILLER J.-A., “A salvação pelo dejetos”. Correio. Revista da Escola Brasileira de Psicanálise. N. 67. Dezembro de 2010. p. 19.
[4] Ibid. p. 23.
Tempo, corte e ato: o acontecimento analista
“Repetir repetir – até ficar diferente
Repetir é um dom do estilo”[i].
O manejo que o poeta Manoel de Barros se permite fazer com as palavras nos oferece uma ocasião para apreender a relação do tempo com a invenção. Repetir até ficar diferente, repetir até extrair da repetição um estilo.
Palavras de poeta que nos levam a interrogar a relação do inconsciente com o tempo, nos introduzindo em uma dimensão que pode subvertê-lo e não só deixando-o fixado em um escrito a ser repetido indefinidamente, para prová-lo como necessário incansavelmente.
Nosso eixo de trabalho vai nos permitir interrogar como se entrelaçam o epistêmico, o clínico e o político na presença do analista em nosso tempo. Um tempo de imperativos de gozo imediato, de objetos prêts-à-porter, que dificultam o consentimento com os intervalos, as suspensões, que estejam a serviço não de formas de evitação do real, mas de precipitação ao ato que tenha valor subjetivo.
Convidamos desde já nossos colegas a nos transmitirem em nosso Encontro como experimentam esse entrelaçamento em sua prática no consultório e fora dele.
O tempo subvertido: Freud
A psicanálise foi inventada por Freud a partir do seu encontro com as manifestações corporais das histéricas, fenômenos de uma época que escapavam às explicações e ao controle da ciência. Freud as escutou e se fez presente de forma diferente dos médicos de sua época. Ele não só as escutou, mas extraiu de sua escuta algo que as re-situava em relação aos fenômenos corporais dos quais padeciam. Freud apostou que as histéricas poderiam dizer algo sobre o que lhes escapava. Ele abriu um lugar de endereçamento para a estranheza que emergia nos lapsos, nos sonhos, nos chistes e assim inventou o inconsciente atemporal que acolhe a repetição e o leva a buscar na textura histórica o que irrompe como acontecimento. Ele recolhe a incidência traumática dos acontecimentos que vêm à tona nessas manifestações. Um passado que se faz presente.
O tempo subvertido: Lacan
Lacan adere à hipótese do inconsciente freudiano[ii] e à subversão temporal que ela introduz. Ele a coloca a trabalho, introduzindo novos elementos para ler o que no presente permanece vivo das marcas deixadas por acontecimentos passados. “Algo comparável a um escrito que é condição da fala e não sua versão acabada. Um ‘desde sempre’, ao invés de um ‘para sempre’”[iii]. O desdobrar linear dos acontecimentos é subvertido pela dimensão do a-posteriori, da retroação e será possível tirar novas consequências dessa reversão temporal. Ao interrogar, ao longo de seu ensino, esse “já escrito”, surge a necessidade lógica da invenção do objeto a que vai incidir na forma de estar presente e de escutar seus pacientes. O manejo do tempo da sessão ganha um lugar decisivo na operação analítica.
O sujeito-suposto-saber em questão
Articulado ao analista como objeto a, Lacan estabelece o matema da transferência a partir do sujeito-suposto-saber, estabelecendo uma “nova aliança entre o tempo e o inconsciente”[iv], que terá consequências no manejo do tempo na sessão e na relação com o saber[v]. Para dar esse passo, Lacan considerou o que se passava no avesso da suposição e foi buscar no tempo lógico a presença do tempo libidinal.
O movimento de retroação temporal que se produz numa análise vai visar na textura dos significantes que emergem e se escrevem no “quadro do saber” [vi]o furo produzido por sua incidência traumática. E a sessão analítica vai ser regida não pelo relógio, fator externo ao que se passa nela, mas pelo que ali acontece.
O analista não se reduzirá a fazer parte do conceito do inconsciente como lugar de endereçamento[vii]. A sua presença incidirá de forma viva no corte e na interpretação em ato. A sessão, portanto, não se orienta pelo tempo em sua duração, mas pelo instante em que fulgura o estava escrito, quando ele se apresenta e se presentifica, pois o inconsciente ganha uma dimensão de separação quando se localiza o objeto em jogo no “já escrito”.
Será na estrutura de mal-entendido, de engano, própria do sujeito suposto saber[viii], que Lacan vai encontrar a possibilidade da emergência do ato do analista. Só quando se consente com o S(A barrado), a falha estrutural no Outro, impossível de anular ou de preencher, é que o ato se dá em sua dimensão de certeza.
No apólogo dos três prisioneiros, o ato de saída da prisão só se torna possível, quando se corre o risco. No a posteriori das escansões, no movimento de uma parada e um partir de novo, que leva à certeza antecipada. Os três tempos lógicos que Lacan extrai desse apólogo: instante de ver, tempo para compreender, momento de concluir, trazem à tona que o que se tem para compreender só leva à saída se permitir uma conclusão enviesada (de travers)[ix]. O tempo para compreender toma outra dimensão a partir do corte e da interpretação que toca na equivocidade da palavra[x]. Não é uma compreensão sem limite na duração da sessão, mas uma compreensão que leva em conta o que faz corte.
O encontro do sujeito com a linguagem produz efeitos no corpo que ficam inscritos como excesso e como furo. Lacan pôde destacar do traumatismo (troumatisme), o furo (trou), naquilo que se produziu como excesso no gozo sem sentido que se experimentou. No movimento de retroação temporal que a experiência do inconsciente em uma análise provoca no encontro com um analista, algo pode acontecer que abre, perfura o excesso que ali se instalou, faz aparecer o vazio.
Nossa questão é de saber como fazer do entrave que representa o sintoma, um modo de circunscrever o vazio, que possa extrair do gozo sua dimensão mortífera, mortificante.
A presença do analista, para tanto, parece crucial para que isso possa acontecer: em uma sessão de análise, uma paciente conta sobre suas crises de pânico em que sente seu corpo fugir. Sem nenhum acontecimento extraordinário que desencadeasse tais crises, fala de seu “jeito” de estar com o Outro, sempre atravessada por um vai-e-vem de preocupações em que ressalta uma grande necessidade de agradar. É quando nomeia esse seu jeito como “agradador”. A analista repete a palavra e, em seguida, corta a sessão ouvindo, da paciente, os ecos da surpresa de uma palavra que nem sequer existe, mas que, no entanto, diz. O analista como corte circunscreve, no que ouve, um dizer que se lê de outra maneira. No “agradador” há um gozo do sintoma que toca o corpo. O corte é sempre uma aposta, ato analítico que visa o gozo alojado na materialidade (moterialité) significante.
O que perfura já estava lá, embora encoberto, a letra no significante, que dá ao objeto a de Lacan um novo lugar, o de inscrever um vazio através do qual podem se enlaçar os registros simbólico, imaginário e real para sustentar o sinthoma. O furo que a letra inscreve no significante abre para um novo saber fazer com o sintoma, dando a ele a chance de funcionar não como entrave, mas como modo de proporcionar uma nova satisfação. Anna Aromi, em seu relato de passe diz:
“O fim de minha análise me permitiu descobrir as letras com as quais minha fantasia foi escrita. Não somente eu pude lê-las – o que já é muito -, mais ainda me servir delas para re-escrever alguma coisa de diferente. A análise, nesse sentido, é como uma re-escrita”[xi].
E ela acrescenta: “A alegria do passe é uma alegria advertida do que não está escrito para sempre, mas a re-escrever constantemente”[xii].
Uma análise é a oferta de um encontro vivo que permite manter aberto o furo que abre a novas escritas, que dá a chance de manejar de forma diferente as letras que marcaram nosso corpo e que tornaram necessária a construção de sintomas, de ficções para tratar o excesso de gozo opaco que elas deixaram.
Uma análise nos ensina que o rodar em círculos da repetição deixa no centro um vazio, que só terá valor de abrir para o novo a partir da operação de corte sustentada pelo analista. Movimento que se desenvolve em espiral[xiii].
Clínica borromeana
O corte faz intervalo não só no que se repete na cadeia significante S1-S2, abrindo para outras leituras, mas por incidir na própria insistência do significante sozinho que não faz cadeia, que J.-A. Miller destacou como reiteração. Em nossa prática contemporânea, essa reiteração fica bem mais evidente. E coloca para o analista uma questão nova: como estar presente, como fazer corte para abrir brechas na insistência de um gozo opaco e sem sentido? O que está em jogo nesses casos não é uma busca de saber, de decifrar o que parece estranho ao sujeito. A demanda vem atravessada por um imperativo de gozo imediato, um mais e mais insaciável. A coragem ética do analista se fará presente em suas invenções para fazer valer pelo corte, intervalos que, em muitos desses casos, se exerce no próprio ir e vir às sessões. E isto torna fundamental a presença do analista com seu corpo em um lugar que provoque um reviramento no tempo e com os cortes possibilitando um novo enodamento entre superfície e tempo[xiv].
Uma vinheta nos ensina sobre os efeitos deste manejo do tempo, ao qual a analista se empresta à forma que a paciente inventou de fazer intervalos e de utilizar mensagens de whatsapp para transmitir suas construções. Ela procura um analista em razão de sucessivos desligamentos do Outro social não conseguindo se fixar ou se envolver no trabalho. Está perdida e imersa em uma multiplicidade de atividades dispersas. Às vezes fala de livros que leu sobre assuntos de seu interesse, mas não faz uso desse saber. Além disso, envia sempre fotos dos seus trabalhos de tecelagem. Após um episódio em que se angustia, suspende o encontro presencial com a analista mantendo só mensagens no whatsapp. A analista, presente como olhar furado, perfura a consistência imaginária e permite uma amarração tecida no manejo do tempo, abrindo intervalos entre o corpo e o pensamento, entre as alternâncias de presença/ausência, entre as dimensões do espaço e do tempo.
O ir e vir serviam de instrumento para a tecelagem que ela ia fazendo por intermédio de sua arte permitindo usá-la em outra função. Com o manejo do tempo a serviço da tecelagem, o analista acontece como presença sutil no tecido das invenções e nos imprevistos ao longo do percurso. Acolher esse tipo de paciente e poder sustentar essa prática como analítica requer tirarmos consequência da clínica borromeana que Lacan nos legou.
Contamos com o que vocês poderão nos transmitir em nosso Encontro do acolhimento em suas práticas de pacientes e de situações que, inclusive, poderiam parecer inaccessíveis à psicanálise, e que, graças à presença viva, em corpo do analista puderam ser tratadas.
A presença real do analista com seu dizer, com seu corpo pode funcionar como testemunha do que se perde[xv]. Esta indicação de Clotilde Leguil é fundamental para pensarmos o analista incluído no conceito do inconsciente[xvi], não apenas como lugar de endereçamento, mas com sua presença viva que contribui para não deixar desaparecer a manifestação contingente do inconsciente e sua função operatória na nossa prática, hoje com as novas demandas motivadas pela urgência de gozo que termina por se transformar em angústia. Quando o imperativo é gozar, o supereu fica solto nas suas exigências, com apoio do que vigora na nossa época. No encontro com um analista, no corpo a corpo da sessão analítica, que implica corte e ato, algo se perde e precisa de uma testemunha, para poder ter efeito de abertura para outra coisa, para algo que possa vir a ser assumido como um estilo, dito pelo poeta, ou como um sintoma, no dizer do analista.
Analista: presente! Como essa afirmativa subverte o empuxo de nossa época a viver o presente, sem passado e sem futuro, que leva a um vale tudo, eliminando a responsabilidade por suas consequências. Em que isso se diferencia do que se indica na frase da canção de Geraldo Vandré, “quem sabe faz a hora não espera acontecer”. Esse saber que faz a hora não é aquele sobre o passado com seu peso de determinismo, nem aquele do futuro como consequência inabalável desse passado. Mas um saber aberto à contingência, tocado pelo imprevisível.
Fiquemos atento às surpresas que a prática do psicanalista nos oferece.
Maria do Rosário Collier do Rêgo Barros
(EBP/AMP)
[i] Barros, M. O livro das ignorãças. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2016, p. 16.
[ii] Miller, J.-A. Los usos del lapso. Buenos Aires: Paidós, 2010.
[iii] Barros, R. do R. “Apresentação”. Miller, J.-A. A erótica do tempo. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2000, p. 7.
[iv] Miller, J.-A. Los usos del lapso. Buenos Aires: Paidós, 2010, p. 14.
[v] Ibid. p. 91-116.
[vi] Lacan, J. “Proposição de 9 de outubro de 1967”. Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 254.
[vii] Leguil, C. “Presença do psicanalista como testemunha da perda”. Boletim Punctum Extra. Disponível em: http://encontrobrasileiroebp2022.com.br/presenca-do-psicanalista-como-testemunha-da-perda/
[viii] Lacan, J. “O engano do sujeito suposto saber”. Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 339. “Na estrutura do engano do sujeito suposto saber, o psicanalista (mas quem é, e onde fica, quando é – esgotem a lira das categorias, isto é, a indeterminação de seu sujeito – o psicanalista?), o psicanalista, no entanto, tem que encontrar a certeza de seu ato e a hiância (béance) que o constitui”.
[ix] Lacan, J. Seminário Les Non-Dupes Errent. Aula de 09 de abril de 1974. Inédito.
[x] Brousse, M. H. “O equívoco”. Texto apresentado nas Jornadas da ECF, 8-9 de outubro 2011, Práxis lacaniana da psicanálise. “Esse é o princípio que dá ao equívoco seu valor de ferramenta em psicanálise, faz passar da necessidade repetitiva à contingência do possível. Para apreender-se com tal, o equívoco empurra à escrita, arrastão sinthoma até o real e não até o discurso, a um ‘tem sido assim, mas que a um ‘isso quer dizer’”.
[xi] Aromi, A. «Un littoral d’écriture». Mental : revue internationale de psychanalyse, n° 32. Ce qui ne peut se dire, ce qui s’écrit “. Novembro, 2014.
[xii] Ibid.
[xiii] Miller, J.-A. «Os trumains». Lição de 2 de maio de 2007 do curso de J.-A. Miller. A orientação lacaniana. O ultimíssimo Lacan (2006-2007). Versão estabelecida por Pascale Fari e traduzida em português por Vera Avellar Ribeiro. Disponível em: https://congresoamp2020.com/pt/articulos.php?sec=el-tema&sub=textos-de-orientacion&file=el-tema/textos-de-orientacion/20-03-02_los-trumanos.html
[xiv] Lacan, J. Seminário Les non-dupes errent. Aula de 9 de abril de 1974. Inédito.
[xv] Leguil, C. “Presença do psicanalista como testemunha da perda”. Boletim Punctum Extra. Disponível em: http://encontrobrasileiroebp2022.com.br/presenca-do-psicanalista-como-testemunha-da-perda/
[xvi] Lacan, J. O Seminário, livro 11, os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
O impossível e o laço, o analista e a época
“O indizível só me poderá ser dado através do fracasso de minha linguagem. Só quando falha a construção, é que obtenho o que ela não conseguiu”[1].
“Violento mesmo é o amor, o resto é só cara de mau”[2].
- Épocas
Há Épocas! Assim, iniciamos o argumento para este eixo. Época é, para o discurso psicanalítico, um significante que traz diversas implicações. Ele nos traz o sentido de uma temporalidade que, apesar de trazer o tempo como contingente, aponta também um sentido político, por remeter a um contexto, a um fragmento da história. Assim, Lacan nos fala de subjetividade de uma Época, retomada por Miller no texto “Ponto de Basta”[3]. Ele retoma esse significante para destacar que não se salta por cima de sua Época. A Época é um limite, algo que determina uma forma de se colocar no mundo.
Lacan, no “Relatório de Roma”[4], faz uma outra importante referência ao tempo, ele nos diz que a subjetividade é transindividual: “seu campo (o da Psicanálise) é o do discurso concreto, como campo da realidade transindividual do sujeito”[5]. Desse modo, o campo com o qual trabalhamos em Psicanálise nos mantém presos uns aos outros, engajados em uma trama social da qual não é possível nos livrar.
No âmbito da Psicanálise, o coletivo não é uma soma de indivíduos. Cabe lembrar aqui a conhecida e enigmática frase de Lacan: O coletivo não é mais do que o sujeito do individual. Uma frase que ressoa, ressoa dentro de nós, sem que seja fácil alcançar onde ela nos leva.
Para trabalhar o tema do eixo 3 partimos da seguinte questão: Há Épocas! Cada Época teria seu próprio ponto de impossível? Ou seja, em qual dialética estamos presos na contemporaneidade? Nesses tempos atuais, diante do impossível da ordem simbólica fazer frente à desordem de um gozo, o que concerne à prática de um analista?
- Transindividualidade: o que quer dizer para Psicanálise?
Já é lugar comum em nossa comunidade falarmos da falência do Nome-do-Pai e da consequente queda do viril. Certamente, é o que define a subjetividade de nossa Época. Quando o Pai se evapora, a quem dirigir o amódio pela falha fundamental de sermos seres falantes? Falamos para quem? Sabemos que hoje pouco se fala, sendo a imagem muito mais o veículo utilizado nos laços sociais. Será que abandonaremos a fala, pois, afinal, não temos mais a quem endereçá-la?
Freud cria a psicanálise se fazendo de semblante do Outro. Ao oferecer sua escuta à histérica, o que ele primeiro descobre é o Pai. Mas sua sagacidade analítica logo o fez se deslocar do pai para sexualidade, percebendo que a raiz do sofrimento histérico não partia de Um pai perverso, mas residia na insatisfação do desejo, imputando a ele sua articulação ao inconsciente. Lacan, diz-nos que “…a imputação do Inconsciente é um fato de incrível caridade de Freud”. A caridade, por princípio, é um ato de amor, um ato de amor aos desprotegidos. O inconsciente abre, ao sujeito que sofre, uma possibilidade de dar um destino a sua incompletude: um ato de amor… Amor que, em nossa prática, recebeu o nome de transferência. Estamos no terreno da ética e aí também reside a transindividualidade que nos aprisiona.
Para esses dois gigantes da psicanálise, o objeto de seu estudo nunca foi o indivíduo e sim um aparelho, um sistema, o que permite incluir aí o social. O sujeito de que se trata não é o indivíduo, mas uma estrutura. Em Freud, um aparelho construído a partir da interpretação dos sonhos, com inconsciente, pré-consciente e consciente. Com Lacan, trata-se de uma articulação entre Real, Simbólico e Imaginário. Tais propostas demonstram que, para eles, nosso objeto de estudo supõe uma trama em cujo centro reside uma alteridade.
Dessa alteridade, dessa outrificaçao de origem, padece nosso sujeito, uma vez que se trata de uma alteridade vazia, traumática. A psicanálise pôde tirar daí, a partir de Freud e Lacan, toda uma clínica para o sintoma. Gostaríamos de extrair desse ponto outras consequências para a lógica do laço social, a lógica coletiva.
- A alteridade, marca do impossível em psicanálise
A alteridade que nos constitui, Lacan a situou na linguagem, não como uma mensagem invertida, como no âmbito de seu primeiro ensino, mas como letra, análoga a um gérmen, que veicula um gozo. Dessa forma, estamos aprisionados a um saber de um gozo que nos é transmitido, embora ignorado. Toda essa trama, marca do impossível de se nomear, marca de uma alteridade estrutural, condena o Ser a ser seu suporte, o semblante do real, como Lacan afirma.
Do desencontro sexual dos falantes decorre essa discordância, atribuída por Lacan, entre o saber sobre essa marca da letra e o Ser como semblante. Cada Ser busca no outro um parceiro para lidar com o vazio do encontro, uma cumplicidade quanto à partilha do seu exílio da relação sexual.
Antoine Tudal, poeta citado por Lacan[6], disse-nos bem:
Entre o homem e o amor,
Existe a mulher.
Entre o homem e a mulher
Existe o mundo.
Entre o homem e o mundo,
Existe um muro[7].
Lacan pôde ler, nesse poema, que o muro da castração é, ao mesmo tempo, a abertura do impossível ao contingente de um encontro. Frente à castração não se responde com o saber, impossível de alcançar. Impõe-se aí um uso do impossível na forma de um novo amor que permita novas e diferentes maneiras de estar no mundo.
Retomo a época com que iniciamos. Época – epokhé – que, em grego, significa colocar entre parênteses. Vamos colocá-la entre parênteses para interrogar e extrair os efeitos desse impossível do amuro nas possíveis formas de laço social em que estamos aprisionados no contemporâneo.
- Segregação, a raiz do falasser e dos coletivos
A nossa época vem se caracterizando por apresentar laços sociais e coletivos que não são marcados por um ideal, não são nomeados por ele. Um mundo onde o ideal empalidece frente à elevação ao zênite do objeto a. O que os caracteriza não são mais identificações a um líder ou a uma ideia, como propôs Freud, em Psicologia das Massas, o que daria a tais agrupamentos um caráter unificador. Cito Freud:
…Teremos de considerar se os grupos com líderes talvez não sejam os mais primitivos e completos e, se nos outros uma idéia, uma abstração, não podem tomar o lugar do líder (estado de coisas para o qual os grupos religiosos, com seu chefe invisível, constituem etapa provisória) e, se uma tendência comum, um desejo, em que certo número de pessoas tenham uma parte, não poderá, da mesma maneira, servir de sucedâneo? […] o ódio contra determinada pessoa ou instituição poderia funcionar exatamente da mesma maneira unificadora […][8] [9].
Freud partiu de uma primeira função de julgamento baseada na experiência de prazer-desprazer para o que viria a constituir o eu com sua raiz de segregação. O que é mau é expulso e o bom é introjetado.
Nenhuma ordenação simbólica se dá sem deixar algo fora dela, ainda que esse algo seja depois simbolizado no interior, precisamente como ausente. É o princípio freudiano da constituição do sujeito a partir de uma exclusão primária, do rechaço originário de um objeto ou de um gozo[10].
Essa lógica, que conhecemos pela introjeção-expulsão, auxilia-nos a pensar sobre a rejeição primordial, tal como Lacan nos apresenta no Sofisma dos três prisioneiros, embora sobre um outro prisma. A lógica de uma assertiva antecipatória exige que o sujeito expulse o gozo que não é o dele: um homem não é homem porque não goza como eu… se os homens não sabem qual é a natureza do gozo deles, os homens sabem o que é a barbárie. A partir daí os homens se reconhecem entre si, e não sabem bem como[11] [12].
A pressa é uma aposta que pode incidir na proliferação de Coletivos como forma de resistência ao aniquilamento do singular e do enfrentamento à universalização das identidades. Ou seja, antes que o coletivo que está em formação parta para a barbárie e me elimine pelo meu modo singular de gozo, eu me apresso e me submeto ao significante que unifica esse agrupamento, mesmo que posteriormente eu tenha de acrescentar um “+” na denominação infinita no capítulo dos gozos.
Lógica da qual queremos tirar consequências para a prática do analista em nossa época. A segregação faz parte de toda operação simbólica e está na raiz do que entendemos por discurso do vínculo social. Nessa direção, qual o espírito de nossa época? De que forma os laços sociais na contemporaneidade atualizam o impossível estrutural que constitui a subjetividade da época? O que pode o analista frente aos efeitos deste impossível em suas diversas manifestações, sejam por grupos identitários ou coletivos de gozo?
- A desordem do gozo e os laços sociais
Ainda a época. Houve uma na qual Lacan pensava um gozo negativizável. Época do grafo do desejo ou de um significante primordial, o falo. No seu último ensino, iniciado no Seminário 20, Lacan nos traz um gozo que não é mais possível ser contido pelo significante, trazendo consequências enormes para a clínica do falasser. Porém, trazendo também uma leitura para o que cada vez mais se prolifera na cultura: uma desordem do gozo.
Laurent, em A Desordem Fálica: O Falo não Negativizável, apresenta importantes reflexões sobre novos agrupamentos, as novas identidades de gênero e raça, problematizando o que o discurso da ciência promoveria nesse campo. Necessitamos distinguir os diferentes sujeitos desses discursos. Para cada um deles encontramos sujeitos diferentes. Temos o sujeito da ciência, do qual nosso sujeito histérico se deriva, temos o sujeito do humanismo, que se aproxima da debilidade, como aponta Lacan, e temos o sujeito que domina em nossa época, o sujeito onde vigora a desordem do gozo. Podemos nos perguntar se seria o sujeito das redes sociais. Laurent traz Hannah Arendt:
O sujeito ideal da dominação totalitária não é nem o nazista convicto nem o comunista convicto, mas as pessoas para as quais a distinção entre o fato e a ficção (ou seja, a realidade da experiência) e a distinção entre verdadeiro e falso (ou seja, as normas de pensamento) não existem mais[13].
Esse sujeito se assemelha ao que prolifera no contemporâneo e que é o alvo por excelência do fascismo. Tal ideologia, se é que se trata de uma ideologia, oferece aos seus seguidores um fascínio, uma unidade entre eles e o culto à liberdade individual. Miguel Lago, em Linguagem da destruição: A democracia Brasileira em Crise, define muito bem o discurso do atual presidente do Brasil:
A vontade individual e a opinião devem ser defendidas doa a quem doer. Liberdade significa, portanto, fazer o que ‘der na telha’, sem que haja qualquer limitação aos impulsos do indivíduo… Uma sociedade em que os mais fortes mandam e podem lançar mão de qualquer recurso para fazer valer o gozo de seus impulsos[14].
Crescem os agrupamentos, sejam em torno dessa disrupção do gozo, sejam em torno de uma reação ao que esse discurso segrega. Entretanto, não são grupos homogêneos, como queria a ciência. Entre as mulheres, os negros, os imigrantes existem múltiplas identidades. E é por essa multiplicidade dos agrupamentos que o analista pode trazer sua contribuição e o discurso analítico tem o que dizer.
- “Política da Psicanálise não se faz sem a Escola”[15]
Precisamos lembrar que o gozo se distingue do prazer e que o múltiplo resulta de que o corpo não é único e nem pode ser alcançado pelo discurso. O corpo é a alteridade que não se consegue absorver, justamente porque ele é o Outro. É ele mesmo quem fala. Observamos que os corpos atuais estão separados da fala. São corpos despedaçados, pedaços de real sem mediação de um Outro que os nomeiem. Sem a dimensão do inconsciente que os atribua um sentido. Estamos em uma época em que os corpos são atravessados por dimensões políticas e não mais por sentidos sustentados por metáforas paternas. Lacan nomeou esse novo sintoma de acontecimento de corpo. Podemos extrair consequências para os novos laços sociais a partir dessa leitura do acontecimento de corpo?
Paula Borsói, traz uma elaboração refinada sobre a relação da Escola e os acontecimentos de corpo. Nessa mesma direção, encontro Helenice Saldanha, em seu texto “Notas sobre a dimensão política do corpo”. Ambas fazem interessantes elaborações sobre a afirmativa de Lacan de que o Inconsciente é a política. Quanto a transindividualidade, Helenice destaca o “caldo cultural do corpo”. Algo que vai além da tentativa de interpretar os “restos e não as insígnias”, como disse outro colega, Marcus André Vieira, do Rio de Janeiro, em “Meus dias de Branco”[16], algo que possa dar aos coletivos um lugar de resistência, frente à universalização do gozo, forjando novas identificações não segregativas.
Por um lado, observamos que o corpo vem ocupando as praças, as ruas, as esplanadas, em um apelo social para que o povo ocupe o espaço público sempre que um atentado é feito ao corpo, seja do imigrante, do negro, das mulheres, etc, Por outro lado, cada parte desse corpo passa a ser um traço imaginário de identificação que permite aos sujeitos se agruparem. Esse cenário, típico de nossa Época, demonstra como o corpo é um enigma para aquele que o tem. Um desconhecido que habitamos.
E, em uma época em que predomina a lógica do ilimitado, e o corpo se apresenta desordenado, o vínculo entre a particularidade de gozo e o universal que o coletiviza, problematizou-se de forma pregnante. Se não podemos apelar a um ideal que não funciona mais, resta, àquele que pretende abordar tal desordem, procurar circunscrever nomeações que, longe de unificar tais agrupamentos, possam se abrir para um significante vazio, como sugeriu Marcus André. Um significante que tenha o poder de enlaçar os sujeitos desse agrupamento, servindo de sujeito para esse coletivo, em consonância com a máxima lacaniana de que o coletivo não é mais do que o sujeito do individual.
Há uma colocação de J.-A. Miller que nos dá uma pista para interpretar esse novo dos laços sociais. “Em Direção à Adolescência”, ele interroga sobre a nova aliança entre a identificação e a pulsão. Ele nos alertava que as identificações, para Lacan, partiam do desejo do Outro, mas será que elas ainda se articulariam dessa forma? Ele diz:
…Eu me perguntava se, no fundo, o corpo do Outro não se encarna no grupo. O bando, a seita, o grupo, não dão um certo acesso a um eu gozo do corpo do Outro do qual faço parte? Não seria possível uma nova aliança entre a identificação e a pulsão?…[17]
Trazer essa aliança, entre a pulsão e a identificação, pode nos orientar sobre os novos coletivos que se organizam em torno da fantasia e do gozo, expressões de um corpo pulsional?
Abro, assim, a conversa sobre os efeitos da Política da Psicanálise em um dispositivo de Escola, onde possamos fracassar da melhor maneira, ou seja, sem fugir ao não-todo que nos singulariza e nos impõe um coletivo. A Escola – nos disse Romildo – não é só um local de formação, nela está contida uma crítica ativa, prática e teórica ao funcionamento social como tal[18]. Esperamos que, dessa primeira conversa de Escola e na Escola, possam surgir novos trabalhos, pontuações, inquietações que irão alimentar nosso XXIV Encontro Brasileiro em novembro próximo.
Margarida M. Elia Assad (EBP/AMP)
N.E.: Relatório apresentado na 3ª Preparatória para o XXIV Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, em 01.09.2022. Cartel sobre o tema do Eixo 3, composto por: Anamáris Pinto, Ana Tereza Groisman, Louise Lhullier, Lucíola Macêdo, Margarida M. Elia Assad (Mais-Um e relatora), Pablo Sauce, Romildo do Rêgo Barros, Rômulo Ferreira da Silva e Ruskaya Maia.
[1] Lispector, C. A Paixão segundo GH. Editora Nova Fronteira. 1979.
[2] N. A.: Frase do Emicida – Leandro Roque de Oliveira, no twitter.
[3] Miller, J.-A. “Ponto de basta”. Opção Lacaniana. N. 79, julho 2018.
[4] Lacan, J. “Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise”. Escritos. Jorge Zahar. 1998.
[5] Ibid. p. 259.
[6] Ibid. P. 290.
[7] Tudal, A. Em Paris, 2000.
[8] Freud, S. (1966) “Psicologia de Grupo e Análise do Eu”. In: ESB, Vol XVIII, RJ. Imago.
[9] Citado por É Laurent no texto “O Além do Falo”, A desordem do Ilimitado. In: Opção Lacaniana, n 84.
[10] Bassols, M, “O Bárbaro. Transtornos de Linguagem e Segregação”. Opção Lacaniana On-line. N 25 e 26.
[11] Laurent, É. O racismo 2.0. Disponível em: http://ampblog2006.blogspot.com/2014/02/lacan-cotidiano-n-371-portugues.html
[12] N. A.: É. Laurent faz essa leitura a partir do texto “O tempo lógico e a asserção de certeza antecipada”, de Lacan, onde o autor descreve sobre a asserção subjetiva antecipatória.
[13] Arendt, H. In As origens do totalitarismo. Citado por Laurent, É. “A Desordem Fálica: O Falo Não Negativizável”. Opção Lacaniana. N. 84. p. 52.
[14] Starling, H; Lago, M; Bignotto, N. Linguagem da Destruição. A Democracia Brasileira em Crise. Companhia das Letras. 2022. São Paulo.
[15] Borsói, P. “Democratizar a psicanálise?”. Correio. Revista da Escola Brasileira de Psicanálise. São Paulo. N 87.
[16] Vieira, M. A. “Meus dias de branco”. Disponível em: https://www.ebp.org.br/correio_express/2022/04/18/meus-dias-de-branco1/
[17]Miller, J.- A. “Em direção a adolescência”. Em: Opção Lacaniana, n. 72. São Paulo: Eolia. 2016. P. 20-30.
[18] Barros, R. Do R. “Sobre Grupos”. Disponível em: http://ea.eol.org.ar/04/pt/template.asp?lecturas_online/textos/rego_barros_sobre.html
Presença do psicanalista como testemunha da perda
Em que sentido a presença do analista é crucial na experiência do inconsciente no século XXI? Esta é uma questão que os tempos atuais nos forçam a formular, confrontados como estamos com a virtualização das trocas, com a necessidade de recorrer ao Zoom para nos falarmos mundo afora, num momento em que a pandemia pôs em perigo a própria possibilidade de um encontro real. Essa questão crucial para o futuro da psicanálise, Lacan a respondeu já em 1964. De fato, Lacan não precisou conhecer o mundo virtual para afirmar a necessidade da presença em corpo do analista. Ele não precisou conhecer a pandemia que acabamos de atravessar em escala planetária, para fazer valer o caráter crucial, no que concerne à experiência da análise, da presença do corpo do analista no lugar mesmo onde se desdobra a fala do analisante.
O mártir e a testemunha
Não é anódino que Lacan, em 1964, tenha escolhido o termo “testemunha”[1] para dar conta da função da presença do analista. Lacan faz do analista a testemunha do que se perde. Ele faz do psicanalista aquele que pode assumir o inconsciente como causa perdida. E é pelo fato de o analista ser capaz de conceber o inconsciente como uma causa perdida que ele tem alguma chance de ganhá-la.
Em Lacan, o uso do termo “testemunha” comporta um antecedente. Na década de 1950, a propósito das psicoses, Lacan pôde mostrar a função da testemunha em um outro sentido. O sujeito paranoico, ao falar de seu delírio, “traz seu testemunho”[2], diz Lacan, no sentido em que “ele fala com vocês de alguma coisa que lhe falou”[3]. Devido a essa relação estranha com a fala, “o psicótico é um mártir do inconsciente”, afirma Lacan, “dando ao termo mártir seu sentido, que é o de testemunhar. Trata-se de um testemunho aberto”[4]. Assim, em 1955, Lacan já fazia valer em que sentido a presença do analista é necessária para permitir o testemunho do sujeito que sofre do significante. É na medida em que ele é martirizado pelo inconsciente que o sujeito psicótico precisa de um testemunho de sua relação com a fala e com o gozo.
Em 1964, é este mesmo termo “testemunha”[5] que retorna à boca de Lacan para fazer valer uma nova concepção do inconsciente articulada à contingência e à temporalidade. A testemunha é doravante o analista, uma vez que ele ali está para atestar o surgimento do inconsciente. De fato, o inconsciente lacaniano dos anos 1960 não é apenas estruturado como uma linguagem, pois ele é também estruturado como um faltoso. Ele é o evasivo, o não realizado, que surge da zona larval, e convoca a ser apreendido a tempo de se realizar.
Presença em nome da perda
A presença do analista é, então, não tanto articulada por Lacan a uma ausência, mas a uma perda. O fato de o analista estar ali, com seu corpo, com sua voz, com sua respiração, no mesmo lugar em que está o analisante, este também com seu corpo e com sua angústia, tem uma função decisiva. O corpo do analista e sua modalidade de presença exercem a função de testemunha daquilo que se perde. Para dar conta disso, Lacan define o campo freudiano como “um campo que, por sua natureza, se perde”[6]. O surgimento do inconsciente se produz no próprio modo daquilo que aparece e depois desaparece, no modo do que se dá a conhecer e depois se deixa esquecer, no modo do que estava lá, mas que já não o está mais. Assim se manifestam os restos de um sonho, o espaço de um lapso, a falha inesperada no coração da fala. Ora, esse inconsciente que se manifesta como o que se perde – como aquilo que apenas encontrado, já está perdido – ganha consistência se, e somente se, houver uma testemunha de seu surgimento.
Isso é o que faz Lacan dizer “que a presença do psicanalista é irredutível, como testemunha dessa perda”[7]. Pois a perda não se produz em plena luz do dia, mas “numa zona de sombra”[8]. Essa perda nos confronta com um ponto opaco em nossa própria fala. Faz-nos experimentar o obscurantismo de nossa fala. Ali onde eu acreditava saber o que eu pensava e o que eu dizia, eis que me encontro ali onde eu não pensava estar, em um lugar onde eu não esperava me encontrar. Esse obscurantismo de minha própria fala, segundo a palavra escolhida por Lacan em 1980 em seu Seminário Dissolução[9], é também o que torna necessária a presença do analista. Ali onde não vejo nada, o analista ali está para mostrar o que há para ver. Só a intervenção, o corte, a interpretação, são capazes de fazer ver onde a perda está em jogo.
Assim, “a presença do psicanalista […] deve ser incluída no conceito de inconsciente”[10] na medida em que essa presença contribui para não deixar desaparecer a manifestação contingente do inconsciente.
Paradoxo da presença do analista no final da análise
Entre o começo e o fim da análise, a presença do analista se transforma. Assim, Jacques-Alain Miller, em sua “Teoria do parceiro”[11], ressaltou as modalidades de presença do analista, depois o Outro do sentido até chegar a esta alguma coisa que ele encarna do “gozo”[12] do sujeito. O corpo do analista testemunha, então, o que afeta o corpo do analisante, ou seja, o eco no corpo do fato de haver um dizer. Há, portanto, um paradoxo da presença do analista na orientação lacaniana. Pois o analista, como Lacan o concebe nos anos 1950, é aquele que deve se apagar como corpo para existir apenas como Outro do significante. A presença em corpo do analista é então concebida, no Seminário 1, como um fator de resistência. De fato, a resistência surge quando o sujeito ressente, bruscamente, a “presença”[13] do analista. Essa presença faz obstáculo ao acesso ao registro do ser, isto é, ao valor sagrado da fala, quando esta vem do inconsciente. O analista, segundo o último Lacan, o dos anos 1970, é aquele que faz ressoar de seu próprio corpo o efeito de gozo produzido pelo significante. É então como Outro do sentido que ele deve ausentar-se para estar presente como parceiro do corpo do analisante.
Desse modo, a presença do analista, no final da análise, tem isto de surpreendente: ela é da ordem de um corpo a corpo que não mais repousa sobre o amor pelo sentido, mas sobre um novo amor, o amor pelo inconsciente real.
Quando o fim da análise conduz ao passe, ele faz então entrar em cena uma nova modalidade de testemunho. O Analista da Escola testemunha, por sua vez, a maneira como a presença do analista, em corpo, pôde fazer ressoar o efeito de gozo do significante e fazê-lo passar ao avesso do sentido, possibilitando-lhe ver do que sua análise se serviu a fim de produzir a ficção que diz o ser. O testemunho do AE tem a função de transmitir o que fez acontecimento de corpo e traumatizou de modo inaugural a relação com a língua. Aqui também, a presença em corpo é irredutível, presença de um analisante tornado analista, que pode testemunhar o fio de ouro do gozo como estando na raiz da relação singular de um ser com os significantes de sua história. Presença de um corpo falante que faz da causa analítica o que anima seu desejo.
Clotilde Leguil
(ECF/AMP)
Tradução: Vera Avellar Ribeiro
Revisão: Fernanda Otoni Brisset
[1] LACAN, J. O seminário, livro 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. (1964) Texto estabelecido por Jacques-Alain Miller. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1979. p. 122.
[2] LACAN, J. O seminário, livro 3: As psicoses. (1955-1956) Texto estabelecido por Jacques-Alain Miller. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2010 (novo projeto gráfico). p. 53.
[3] Ibid., p. 53.
[4] Ibid., p. 156.
[5] LACAN, 1979, op. cit., p. 122.
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] LACAN, J. Dissolution (1980) In: LACAN, J. Aux confins du Séminaire, Texto estabelecido por Jacques-Alain Miller. Paris: La divina, Navarin Editeur, 2021. p. 67.
[10] LACAN, 1979, op. cit., p. 123.
[11] MILLER, J.-A. «A teoria do parceiro». In: Os circuitos do desejo na vida e na análise. Contra Capa: Rio de Janeiro. 2000. p. 153 – 207.
[12] Ibid.
[13] LACAN, J. O seminário, livro 1: Os escritos técnicos de Freud. (1953-1954) Texto estabelecido por J.-A. Miller. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1986. p. 51.
Em estado de emergência
 Para não esquecer: o nome dessa coluna foi roubado de Clarice Lispector. Sempre que eu pego esse livro para ler e vejo aquele título, eu o leio para não esquecer. Menos porque seja uma ordem, e mais porque ali está um esboço do seu método: escrever é para não esquecer, é para prolongar o tempo “dividi-lo em partículas de segundos, dando a cada uma delas uma vida insubstituível”. Método que Clarice definirá explicitamente em A Hora da Estrela: “esta história acontece em estado de emergência de calamidade pública”.
Para não esquecer: o nome dessa coluna foi roubado de Clarice Lispector. Sempre que eu pego esse livro para ler e vejo aquele título, eu o leio para não esquecer. Menos porque seja uma ordem, e mais porque ali está um esboço do seu método: escrever é para não esquecer, é para prolongar o tempo “dividi-lo em partículas de segundos, dando a cada uma delas uma vida insubstituível”. Método que Clarice definirá explicitamente em A Hora da Estrela: “esta história acontece em estado de emergência de calamidade pública”.
Para não esquecer estabelece um vínculo com a memória, não para viver a nostalgia do passado perdido, mas para fazer desse passado uma presença. E é de presença que se faz o presente e só a partir dele podemos pensar no futuro. De modo que, o que se escreverá aqui terá o sentimento de uma “saudade do futuro” – crônicas anacrônicas que juntarão passado e futuro para pensar aqui e agora.
Para não esquecer é a tentativa de reavivar uma capacidade de sentir todas as coisas do mundo – os cheiros, as respirações, os sussurros, os gritos, as vozes. O que não chega a ser um privilégio; é, mais precisamente, um estado patológico, é puro pathos – é feito de e com paixão. Embora essa capacidade de sentir pareça profunda e íntima, ela só pode ser exterior. Então, ao invés de intimidades, falarei de extimidades. Porque, como dizia Paul Valéry, o mais profundo é a pele. E é a partir deste fragmento de Valéry que Deleuze elabora uma leitura do acontecimento, conceituando-o como o que nos toca, o que nos toca a pele e “é seguindo a fronteira, margeando a superfície que passamos dos corpos ao incorporal”. É do efeito produzido por esse incorporal que surge um acontecimento. Deste modo, os acontecimentos são infinitos e ilimitados e sua característica é a insistência.
Para não esquecer é para falar disso que insiste. Do que insiste fantasmagoricamente para se reafirmar como acontecimento. Uma pura energia vital latente que pode irromper a qualquer momento. O que não deixa de ser uma forma de esperança, uma abertura ao devir. Daí a imagem que compõe esta coluna, da coleção Vanitas de Justine Reyes, que me foi apresentada pelo Fabiano Camilo. Em português, quando nos referimos a esse tipo de imagem dizemos “Natureza Morta”; em inglês diz-se “Still Life”, vida ainda. Porque ali ainda há vida, uma vida que sobrevive na imagem. O que nos cabe é retomá-la na sua contingência e devolver a ela possibilidades. Essa coluna falará, portanto, dessa relação íntima entre arte e vida, entre literatura e vida. De uma nova forma de esperança, porque a literatura, já dizia Deleuze, é uma saúde. Ou ainda, em uma das definições mais bonitas de arte, que é de Hélio Oiticica: ela cria possibilidades de vida.
Para não esquecer não significa que a amnésia não seja um bom remédio. Mas que é preciso lembrar para esquecer ou na boa fórmula freudiana: recordar, repetir, elaborar. Porque os acontecimentos se dão nesse amor de transferência, nos efeitos que projetamos e recebemos, com quem estabelecemos as trocas. Mas isso não quer dizer que escolhemos nossos destinatários: eles são o mundo. Pura projeção e receptividade, os acontecimentos contêm certa alienação de um estado de graça, um estado transitório de felicidade. Que não é um estado de espírito, ao contrário, ele se condensa na materialidade do corpo, na profundidade da pele.
Para não esquecer entende, como María Zambrano, que a ruína é uma metáfora da esperança. Mas não esquece que a ruína surge da catástrofe que se anuncia todos os dias e que ela também é uma forma de acontecimento. Essa coluna é assinada por mim, mas tem a autoria do tempo e das imagens, porque o que vemos também nos olha. O que ela pretende é, à maneira sugerida por Walter Benjamin, ler Still Life ao invés de Natureza Morta; potencializar o presente.
Para não esquecer é uma homenagem à Clarice Lispector e será escrita de acordo com seu método: em estado de emergência.
Flávia Cêra
[1] Em 2010 fui convidada para ter uma coluna no portal O pensador selvagem que intitulei Para não esquecer. Este texto, Em estado de emergência, foi escrito para sua abertura.
Bibliografia e ressonâncias
“O sintoma como acontecimento de corpo não condena a nenhum solipsismo ou individualismo. Ele advém num corpo tomado pela linguagem, isto é, num corpo tomado no laço social com os outros”[1].
 O termo parlêtre vem substituir o inconsciente freudiano, e traz consigo a dimensão do sintoma como acontecimento de corpo. O Outro é o corpo onde se inscreve algo que é chamado de marca[2]. A participação do corpo incluído no próprio conceito do inconsciente não promove um individualismo ou solipsismo, mas redimensiona as relações do sujeito com o discurso.
O termo parlêtre vem substituir o inconsciente freudiano, e traz consigo a dimensão do sintoma como acontecimento de corpo. O Outro é o corpo onde se inscreve algo que é chamado de marca[2]. A participação do corpo incluído no próprio conceito do inconsciente não promove um individualismo ou solipsismo, mas redimensiona as relações do sujeito com o discurso.
Referir-nos ao laço social permite destacar a vertente transindividual do inconsciente sustentada no conceito de discurso e na sua articulação com o discurso do mestre. É desta perspectiva que a relação com o coletivo e com a época podem ser pensadas, a partir “dos significantes mestres que constituem os laços sociais, que não são outra coisa, que sua dimensão política”[3].
Esta dimensão transindividual e política se enoda na frase de Lacan “o Inconsciente é a política”, o que nos permite articular a afirmação de Miller: ao extrair o inconsciente da esfera solipsista para inseri-lo na cidade é preciso saber que a cidade não existe mais, que o espaço político da cidade ou do estado foi tomado pela globalização[4].
O espaço político é global, os significantes mestres que tocam o corpo também o são. O corpo marcado pela linguagem inclui o laço que o discurso do mestre perfaz.
É preciso entender o laço ou coletivo não mais a partir da identificação ao pai, como na massa freudiana, e pensá-lo a partir daquilo que afeta os corpos. O acontecimento de corpo pode ser generalizado como um traço inscrito no corpo falante do falasser[5] e assim localizar como os corpos se articulam no laço. Como tomar o acontecimento de corpo nessa perspectiva? Como os corpos podem ou não serem marcados nesse laço?
Podemos dizer que há algo que se inscreve no corpo em determinadas experiências coletivas, mas esse comum que acaba por inscrever-se no corpo não se reduz a uma marca de afeto compartilhada, é de outra ordem[6].
Em Formas de voltar para casa, Alejandro Zambra toca a nostalgia de uma marca que não aconteceu como se imaginava, marcas do trauma que parecem não doer como deveriam, certa alienação do laço social ao mesmo tempo que viveu estas relações no compasso cotidiano dos anos de ditadura em seu país.
Em suas Ficções, a relação com o tempo, com a satisfação, o ideal e o horror se presentifica em suas linhas e seus vazios, num entrelaçamento obscuro e ao mesmo tempo imprescindível entre personagens e histórias, que parecem ser os mesmos na medida que não o são. Sua escrita faz sentir a hiância que alimenta o texto, que se vive ao lê-lo. É no próprio texto que outro tempo histórico se costura e as marcas aparecem sob outra ótica daquela compartilhada socialmente.
Embora esse seja apenas um aspecto de sua obra, o tomo como exemplo de que embora os corpos possam sofrer uma marca coletiva de um acontecimento como o foi a ditadura no Chile, o singular permanece na hiancia do entrelaçamento das palavras.
Paola Salinas (EBP/AMP)
[1] Laurent, É. O avesso da biopolítica. Uma escrita para o gozo. Rio de Janeiro, Contra Capa, 2016, p. 23.
[2] Lacan, J. O seminário, Livro 14. A lógica do fantasma. Mimeo. Aula de 10/05/67. Inédito.
[3] Holguin, C. “En la política de los seres hablantes, el analista es una arma”. In: Bitácora Lacaniana. Revista de Psicoanalisis de la Nueva Escuela Lacaniana – NEL. n 6, septiembre de 2017. Olivos, Grama Ediciones, p. 21.
[4] Miller, J.-A. (2002) “Intuições Milanesas I”. Opção Lacaniana on line nova série. Ano 2, n. 5, julho de 2011.
[5] Laurent. É. “O falasser político”. Op.Cit. p. 213.
[6] Miller, J.-A. “La “Common Decency” de Oumma”. Publicado no Le point.fr em 6/2/15. Disponível em espanhol: www.eol.ar Jacques Alain Miller on line.
“Na estrutura do engano do sujeito suposto saber, o psicanalista (mas quem é, e onde fica, e quando é – esgotem a lira das categorias, isto é, a indeterminação de seu sujeito – o psicanalista?), o psicanalista, no entanto, tem que encontrar a certeza de seu ato e a hiância que constitui sua lei”[7].
No texto de onde essa passagem foi extraída, “O engano do sujeito suposto saber”, Lacan promove uma depuração da perspectiva do inconsciente. Algumas alegações remontam aos esforços freudianos inaugurais de situar um inconsciente distinto daquele definido pelo senso comum; outras são mais sensíveis, pois contestam perspectivas cultivadas dentro do próprio campo psicanalítico. O inconsciente, escreve Lacan, não é “o pattern de comportamento, a tendência instintiva […], a emergência desenvolvimentista que falseia o sentido das fases pré-genitais” etc. Além disso, ele alude à comicidade do saber absoluto, ao inconsciente que não tem um “ser próprio” e recorda que “sua estrutura não caía no âmbito de nenhuma representação”. Até mesmo sua elaboração do inconsciente como discurso do Outro parece ser revisitada de viés.
O inconsciente aqui transmitido por Lacan é enxuto, simples… e perturbador: “que possa haver um dizer que se diz sem que a gente saiba quem o diz”. Ele não impacta por ser antigo, recalcado ou inconfessável, mas por produzir uma “resistência ôn-tica”, ou seja, a resistência em assimilar, em nós, “que se possa dizer alguma coisa sem que nenhum sujeito o saiba”. Ocorre que essa contração conceitual que faz do inconsciente algo ao mesmo tempo tão trivial e tão crítico não fragiliza apenas a solidez daqueles que experimentam em si suas manifestações, mas também a da posição do psicanalista. Afinal, como ancorar sua interpretação sem contar com a suposição de que esse saber já estava lá? É justamente aqui que se pressente a tensão entre os termos certeza e hiância, que compõem a frase comentada e que demandaria ser mais explorada.
Pensei, então, nos desafios atuais com a experiência do inconsciente e senti a tentação de apontar para aqueles sujeitos tão fortemente aferrados às suas identidades que não poderiam senão rechaçar esse “dizer que se diz sem que a gente saiba quem o diz”. Um efeito de punctum se deu quando uma observação de Lacan, feito no início do texto, veio à mente. A descoberta “mais revolucionária que já houve para o pensamento”, aquela do inconsciente, foi “esquecida” pelos psicanalistas, que quiseram “tranquilizar a si mesmos” e tomaram “a experiência dela como privilégio deles”.
Tomar a crítica de Lacan apenas como um dado histórico, dirigida a psicanalistas ultrapassados, seria, também, tranquilizador. Mas uma interrogação se impôs: mesmo firmemente orientados pela noção de um inconsciente tão hiante, ainda existiria o risco de tomarmos sua experiência como nosso privilégio? Que forma teria esse risco?
Rodrigo Lyra (EBP/AMP)
[7] Lacan, J. “O engano do sujeito suposto saber”. Outros escritos. Jorge Zahar.Rio de Janeiro. P. 339.
Os três (mais um) planos da presença do analista
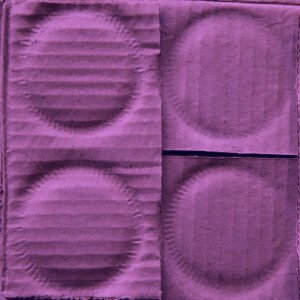 Tudo indica que retornamos a tempos pré-lacanianos quando temos que afirmar seguidamente que a presença do analista não é a incidência de sua pessoa no discurso analisante. Sem o analista como gente, sem empatia ou humanidade não há análise. São, porém, condições necessárias, mas não suficientes. Pior, tomadas como direção e motor da análise só levam ao doutrinamento ou, nos termos de Lacan, à identificação com o analista – quando se trata de transferência positiva – ou ainda a um contínuo enfrentamento – quando a transferência negativa está em primeiro plano. Vale conferir as indicações abundantes de Lacan a esse respeito em seus primeiros seminários ou em textos como A direção do tratamento.
Tudo indica que retornamos a tempos pré-lacanianos quando temos que afirmar seguidamente que a presença do analista não é a incidência de sua pessoa no discurso analisante. Sem o analista como gente, sem empatia ou humanidade não há análise. São, porém, condições necessárias, mas não suficientes. Pior, tomadas como direção e motor da análise só levam ao doutrinamento ou, nos termos de Lacan, à identificação com o analista – quando se trata de transferência positiva – ou ainda a um contínuo enfrentamento – quando a transferência negativa está em primeiro plano. Vale conferir as indicações abundantes de Lacan a esse respeito em seus primeiros seminários ou em textos como A direção do tratamento.
O perigo, porém, é fugir da empatia e da compreensão para cair nos braços de uma ontologia do silêncio e do mistério. O real passa a ser o silêncio das pulsões, inescrutável e inefável. A presença do analista passa a ser tomada como o real da psicanálise, como se bastasse estar na presença do analista para que houvesse análise. Ora, foi exatamente contra esse desvio que se insurgiu Lacan com relação à aberração que constituía a figura do didata na IPA de seu tempo. Esse também é o perigo de pensarmos, em tempo de análises on line, que a presença corporal bastaria como garantia da presença. Nunca é demais lembrar que quando Lacan fala em “o analista”, está falando de uma função, de uma posição, um “lugar de fala” no encontro analítico, que às vezes se materializa, às vezes não. A função analista é contingente. A presença do analista é ôntica, não ontológica. Nos termos de Miller, é existência, um ente, um existente e não um ser.
Bem-vindos, então, aos paradoxos de uma presença que não é, mas ainda assim é. É a presença como aquela que sustenta a existência, nos ditos do analisante, não de um indizível, mas sim da possibilidade de um dizer “a mais”. É contraintuitivo, mas assim é nosso trabalho, o de uma presença que se articula “ao que se diz”, como seu não-dito e que, apesar de ser articulada “ao que não se diz”, ainda assim é alguma coisa.
Este é o paradoxo que abordamos, desde Lacan, com o termo resto. O resto tanto é quanto não é. Não faz parte do que se diz, mas está por ali, por “cair” do dito. Uma vez dito o dito, o resto cai dele como aquilo que não era para estar ali.
Creio que o aforismo de Lacan em O Aturdito é uma maneira de retomar essa intrincada articulação, sem o imaginário do excluído e do lixo que sempre acompanham o resto. Além disso, assume todo o seu valor, quando estamos em um plano de exclusão e desigualdade no grau de violência que é o da nossa sociedade. Afinal, não é porque que alguém é excluído que não deva ganhar lugar. Já o resto lacaniano, é o resto irredutível, que nunca terá lugar a não ser como desencaixado.
Que se diga fica esquecido por trás do que se diz em o que se ouve.[1] Essa foi a tradução possível nos Outros Escritos. O “em o que…” ficou feio, mais natural seria dizer “no que…”, mas foi o modo de não perder a ideia de que aquilo que fica esquecido, assim fica, por estar “em”, dentro (dans) daquilo que se ouve.
Mas o mais difícil nessa frase me parece o “ouvir” (entendre). Há toda uma diferença entre uma atitude meio passiva, ouvir e uma ativa, de recorte e escolha em escutar ou mesmo entender que é outra tradução possível do termo usado por Lacan. Das três possibilidades, claramente Lacan fala de alguma coisa prévia ao ato de escutar, por isso optamos por ouvir na tradução oficial. Escutar ou entender é coisa da consciência que edita o discurso do Outro. Lacan está falando de um processo da fala, do ato de fala e não do ato de edição, de leitura do discurso do Outro, que fazemos a cada vez que conseguimos, dele, entender alguma coisa. Mas temos que ter em mente as três opções.
Então, para começar correndo o risco de escorregar no esquematismo didático, vamos experimentar o entendre como escutar. A tradução ficaria assim: Que se diga fica esquecido atrás daquilo que se escuta naquilo que se ouve. Vamos, agora, redizer a formulação passo a passo e de trás para frente. Quando algo se escuta naquilo que se disse, o dizer, o fato do dizer, o ato de enunciação, fica ofuscado pelo que, do que se disse, se entendeu.
Ora, essa operação de esquecimento, própria do discurso, esconde o gap entre o que se entende e o que se fala, como se houvesse uma comunicação transparente, sem distância entre intenção e gesto. Esse intervalo, porém, se apresenta aqui e ali e é o próprio da presença do analista fazê-lo aparecer. Neste caso, entre os dois, surge um dizer que ainda não está dito. Era um não dito que agora, no entanto, se decanta ou se deposita, como um quase dito, um fragmento de memória, por exemplo, entre o dito e o dizer. Isso é o nosso material de análise.
O que não se diz, aqui, não é puramente negativo (esse seria o caminho intuitivo: quando não dizemos alguma coisa, ela simplesmente não é, não é o que ocorre em uma análise).
Desde o texto de Freud sobre a negação, considera-se que se dissemos que não é a mãe, a mãe já está convocada, em cena. Para nós, psicanalistas, não há “não” que seja puro não. Lacan generaliza, afirmando que por sermos feitos de linguagem é quase impossível instituir uma negatividade pura. Para dizer o que não é, temos que, de algum modo, já dizer alguma coisa dele. Vale lembrar quando o Homem dos Ratos diz a Freud: “se por exemplo, fosse meu pai a sofrer uma desgraça…”. Ele fala como se fosse justamente nada, apenas um exemplo. E Freud intervém dizendo: o exemplo é a coisa. Essa intervenção materializa o “que se diga” no dizer do homem dos ratos sobre seu pai. Um segundo antes era nada, um instante depois já é um dizer que pode ser lido como um desejo inconsciente de morte, entre outras possibilidades.
Assim, em uma análise, tudo o que você disser pode depor contra você. Mas não porque há segredos nos porões, e sim porque, performativamente alguma coisa vem a estar ali. Essa coisa não estava guardada, escondida debaixo do silêncio. A presença de um silêncio específico, em um momento específico, cristaliza, decanta algo novo que estava ofuscado pela articulação até então em curso, pela maneira como o dito recortava um não-dizer.
Retomando mais uma vez o aforismo agora sem a inversão didática:
- Que se diga: esse é o fato de dizer, o ato de dizer; ele parece o sujeito da frase, por ser o que vem primeiro e, de fato, é o mais importante, mas vai ficar ofuscado pelo sujeito da frase, que está no final, o que se ouve. É o que se ouve que age, ofuscando o que se diga.
- O método de ocultamento de o que se ouve é se servir de o que se diz, do dito em questão. É uma operação sobre o dito que oculta o ato de dizer e essa operação é ouvir (que é muito mais que entender, escutar, mas também é isso). Ao depreender um o que se ouve em aquilo que se diz, oculta-se o ato de dizer, oculta-se o que se diga.
- Mas o que diz o que se diga, o ato de dizer? Por um lado, a potência do dizer, potência desejante em si, que é sempre aberta ao novo. A presença dessa potência do dizer, porém, tem outros efeitos além de abertura. Esse ato pode decantar alguma coisa outra que não a coisa ouvida.
- Essa alguma coisa é o não dito que se perdia quando se escutava, quando se queria demais entender alguma coisa. O que faz uma interpretação é colher alguma coisa nova no dizer que não o que se escutou no dito. A interpretação é a extração de um novo dito a partir da abertura do ato de dizer.
Materializa-se um real que é – nos termos de Lacan – sempre “hiância e texto”. No início de uma análise este real é mais texto do que hiância, no final a proporção se inverte, mas é sempre letra e gozo, indissociáveis.
Uma consequência disso é que em uma análise não há ato em um sentido puro, que aliás, nem existe. Apenas o suicídio seria um puro ato. Todo ato é o ato dentro de coordenadas significantes sendo, portanto, sempre ato de um dizer, mesmo que esse dizer esteja sempre em ruptura com o contexto em que se instaura. Desse modo, na análise, para cada dizer uma estrutura ternária se põe em jogo. Uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que eu sou no que eu digo, e outra ainda é o que posso vir a ser no dizer.
Vale retomar o relato descrito por Hilda Doolittle[2] de um momento de sua análise com Freud, tal como proposto por Miquel Bassols e que Nohemí Brown comenta.[3] Hilda manda flores a seu analista no aniversário dele, como sempre mandava, mas não assina o cartão. Freud não deixa o fato passar em branco e responde a ela agradecendo, e assim como ela, não assina a carta. Na sessão seguinte, ela fala como se isso não tivesse importância. No momento em que ela falava com indiferença daquele assunto, Freud bate no divã e diz: “o problema é que sou idoso, você não acredita que valha a pena me amar”. Estamos, infelizmente, deixando de lado todo um mundo de detalhes que compõem a relação entre eles, especialmente a transferência amorosa, e também negativa, de Doolittle para Freud. Seria preciso ler com calma o Tribute to Freud. Ficaremos apenas com as indicações de Bassols e Nohemí.
Vamos assumir que tudo está concentrado em três elementos ou três planos: o plano do dito, o plano do dizer e o plano do que se decanta entre o que se disse e o que se escutou do que se disse. E nessa história há ainda um quarto elemento, o próprio ato do dizer como potência de reconfiguração e recriação de si na fala.
O analista faz alguma coisa – bater no divã – e isso é algo que está na fala, é um dito, mas um dito entre dito e dizer. E, além disso, ele diz: sou velho demais para você. A partir daí, a dimensão da presença do analista vai se localizar não no que se escutou do que ele disse, mas no que se depositou entre os dois.
O primeiro plano, o mais evidente, que é o da transferência amorosa, do sujeito suposto saber, localiza de um lado, um pai – Freud –, e do outro, Hilda, sempre muito amorosa com aquele senhor. Freud, no entanto, aponta que o jogo entra no termo da mentira. Bassols destaca: ela está deitada e mentindo, lying, no sentindo da ambiguidade do inglês. Isso, porém, traz outro plano para o jogo: ela estava deitada, não apenas em uma transferência amorosa com o pai, mas, também, em uma transferência erótica com aquele que seria seu analista, se oferecendo como objeto na cama para ele. Então, essa é a mentira, ou o outro plano, que aparece na interpretação. Uma interpretação possível seria dizer: “você está aí, meio indiferente e tranquila e esqueceu de mim, mas esqueceu de mim porque você tem uma repulsa por seu desejo amoroso por um velho como eu”. Isso envolve uma espécie de negatividade estranha, porque não equivale a dizer “na verdade, lá no fundo, você tem desejos eróticos por mim”. Isso já faria parte de um segundo plano.
O segundo plano é o da interpretação. O plano de uma interpretação que traz algo de pulsional, não sendo apenas amor, mas, também, desejo. Só que neste plano, Freud aponta para o desejo articulado com a repulsa – um clássico na histeria. Um jogo de repulsa que evidencia o jogo de desejo.
No terceiro plano, Freud bate no divã, e como disse Jacques-Alain Miller, há algo “a mais” na batida, como se o analista estivesse produzindo uma ressonância daquilo que vai além de dizer apenas: “há um desejo erótico por mim”. Seria, por exemplo, como dizer “há um desejo erótico por mim, e mesmo que você esteja assustada comigo morrendo, eu [bate na mesa] estou aqui”.
É importante destacar que não basta traumatizar para entrarmos nesse plano. Quando Freud faz essa intervenção, ela só pode acontecer porque ele está no lugar de objeto que a transferência lhe designa: o lugar do senhor adorável e do senhor mortificado, que pode ser desejado eroticamente de forma inconsciente porque não representa nenhum risco. Então, é desse lugar, com tudo isso em jogo, que Freud bate no divã. E, talvez, seja importante bater no divã, não só porque o divã é o lugar da cama, mas porque isso marca a sua presença. Sem contar com o fato de que ele faz isso na hora exata em que quer se mostrar mais vivo e não velho e acabado.
Essa dimensão da presença do analista atravessando a dimensão “dito e dizer” da transferência e da fantasia, é muito importante. Poderíamos pensar que isso “foi um ato analítico” ou, pior, que o analista “fez um ato” porque transgrediu de alguma maneira. Bater no divã, gritar, ou fazer alguma coisa para sair do setting, nada disso, porém é garantia de que o analista se apresente como vivo, ou em outros termos, como o desejo do analista. A presença do analista, como função, como desejo do analista, se encarna quando um analista aceita se submeter aos significantes do analisante, bancando ser o objeto desse analisante, para poder, aí sim, na hora H, se tudo der certo, se apresentar como real.
Marcus André Vieira[4]
[1] Lacan, Jacques O aturdito In Outros Escritos Jorge Zahar Editor Rio de Janeiro Ed 2003 pg 449, no original: Qu’on disse reste oublié derière ce qui se dit dans ce qui s’entend”.
[2] Hilda Doolittle Tribute to Freud New Directions Publishing, 1984
[3] Cf. Bassols, M. The paradoxes of transference, disponível em
https://static1.squarespace.com/static/5d52d51fc078720001362276/t/616585eed2697c31683c7d27/1634043377909/20140215+Bassols+Transference+New+York.pdf cf. Brown, N. Intervenção no Seminário Clínico da EBP-Rio (inédito).
[4] Este texto reproduz fragmentos escolhidos da participação do autor na discussão dos encontros do Seminário Clínico da Seção Rio em 2019 sobre a Presença do analista, coordenado por Marcus André Vieira e Romildo do Rêgo Barros, que contou com a participação de Nohemi Brown como convidada.

