Por Marcus André Vieira*
• Este texto reproduz fragmentos escolhidos da participação do autor na discussão dos encontros do Seminário Clínico da Seção Rio em 2019 sobre a Presença do analista, coordenado por Marcus André Vieira e Romildo do Rêgo Barros, que contou com a participação de Nohemi Brown como convidada.
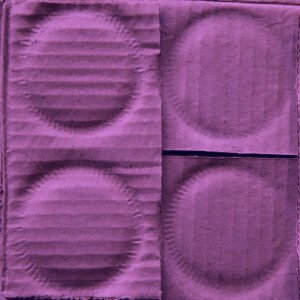 Tudo indica que retornamos a tempos pré-lacanianos quando temos que afirmar seguidamente que a presença do analista não é a incidência de sua pessoa no discurso analisante. Sem o analista como gente, sem empatia ou humanidade não há análise. São, porém, condições necessárias, mas não suficientes. Pior, tomadas como direção e motor da análise só levam ao doutrinamento ou, nos termos de Lacan, à identificação com o analista – quando se trata de transferência positiva – ou ainda a um contínuo enfrentamento – quando a transferência negativa está em primeiro plano. Vale conferir as indicações abundantes de Lacan a esse respeito em seus primeiros seminários ou em textos como A direção do tratamento.
Tudo indica que retornamos a tempos pré-lacanianos quando temos que afirmar seguidamente que a presença do analista não é a incidência de sua pessoa no discurso analisante. Sem o analista como gente, sem empatia ou humanidade não há análise. São, porém, condições necessárias, mas não suficientes. Pior, tomadas como direção e motor da análise só levam ao doutrinamento ou, nos termos de Lacan, à identificação com o analista – quando se trata de transferência positiva – ou ainda a um contínuo enfrentamento – quando a transferência negativa está em primeiro plano. Vale conferir as indicações abundantes de Lacan a esse respeito em seus primeiros seminários ou em textos como A direção do tratamento.
O perigo, porém, é fugir da empatia e da compreensão para cair nos braços de uma ontologia do silêncio e do mistério. O real passa a ser o silêncio das pulsões, inescrutável e inefável. A presença do analista passa a ser tomada como o real da psicanálise, como se bastasse estar na presença do analista para que houvesse análise. Ora, foi exatamente contra esse desvio que se insurgiu Lacan com relação à aberração que constituía a figura do didata na IPA de seu tempo. Esse também é o perigo de pensarmos, em tempo de análises on line, que a presença corporal bastaria como garantia da presença. Nunca é demais lembrar que quando Lacan fala em “o analista”, está falando de uma função, de uma posição, um “lugar de fala” no encontro analítico, que às vezes se materializa, às vezes não. A função analista é contingente. A presença do analista é ôntica, não ontológica. Nos termos de Miller, é existência, um ente, um existente e não um ser.
Bem-vindos, então, aos paradoxos de uma presença que não é, mas ainda assim é. É a presença como aquela que sustenta a existência, nos ditos do analisante, não de um indizível, mas sim da possibilidade de um dizer “a mais”. É contraintuitivo, mas assim é nosso trabalho, o de uma presença que se articula “ao que se diz”, como seu não-dito e que, apesar de ser articulada “ao que não se diz”, ainda assim é alguma coisa.
Este é o paradoxo que abordamos, desde Lacan, com o termo resto. O resto tanto é quanto não é. Não faz parte do que se diz, mas está por ali, por “cair” do dito. Uma vez dito o dito, o resto cai dele como aquilo que não era para estar ali.
Creio que o aforismo de Lacan em O Aturdito é uma maneira de retomar essa intrincada articulação, sem o imaginário do excluído e do lixo que sempre acompanham o resto. Além disso, assume todo o seu valor, quando estamos em um plano de exclusão e desigualdade no grau de violência que é o da nossa sociedade. Afinal, não é porque que alguém é excluído que não deva ganhar lugar. Já o resto lacaniano, é o resto irredutível, que nunca terá lugar a não ser como desencaixado.
Que se diga fica esquecido por trás do que se diz em o que se ouve.[1] Essa foi a tradução possível nos Outros Escritos. O “em o que…” ficou feio, mais natural seria dizer “no que…”, mas foi o modo de não perder a ideia de que aquilo que fica esquecido, assim fica, por estar “em”, dentro (dans) daquilo que se ouve.
Mas o mais difícil nessa frase me parece o “ouvir” (entendre). Há toda uma diferença entre uma atitude meio passiva, ouvir e uma ativa, de recorte e escolha em escutar ou mesmo entender que é outra tradução possível do termo usado por Lacan. Das três possibilidades, claramente Lacan fala de alguma coisa prévia ao ato de escutar, por isso optamos por ouvir na tradução oficial. Escutar ou entender é coisa da consciência que edita o discurso do Outro. Lacan está falando de um processo da fala, do ato de fala e não do ato de edição, de leitura do discurso do Outro, que fazemos a cada vez que conseguimos, dele, entender alguma coisa. Mas temos que ter em mente as três opções.
Então, para começar correndo o risco de escorregar no esquematismo didático, vamos experimentar o entendre como escutar. A tradução ficaria assim: Que se diga fica esquecido atrás daquilo que se escuta naquilo que se ouve. Vamos, agora, redizer a formulação passo a passo e de trás para frente. Quando algo se escuta naquilo que se disse, o dizer, o fato do dizer, o ato de enunciação, fica ofuscado pelo que, do que se disse, se entendeu.
Ora, essa operação de esquecimento, própria do discurso, esconde o gap entre o que se entende e o que se fala, como se houvesse uma comunicação transparente, sem distância entre intenção e gesto. Esse intervalo, porém, se apresenta aqui e ali e é o próprio da presença do analista fazê-lo aparecer. Neste caso, entre os dois, surge um dizer que ainda não está dito. Era um não dito que agora, no entanto, se decanta ou se deposita, como um quase dito, um fragmento de memória, por exemplo, entre o dito e o dizer. Isso é o nosso material de análise.
O que não se diz, aqui, não é puramente negativo (esse seria o caminho intuitivo: quando não dizemos alguma coisa, ela simplesmente não é, não é o que ocorre em uma análise).
Desde o texto de Freud sobre a negação, considera-se que se dissemos que não é a mãe, a mãe já está convocada, em cena. Para nós, psicanalistas, não há “não” que seja puro não. Lacan generaliza, afirmando que por sermos feitos de linguagem é quase impossível instituir uma negatividade pura. Para dizer o que não é, temos que, de algum modo, já dizer alguma coisa dele. Vale lembrar quando o Homem dos Ratos diz a Freud: “se por exemplo, fosse meu pai a sofrer uma desgraça…”. Ele fala como se fosse justamente nada, apenas um exemplo. E Freud intervém dizendo: o exemplo é a coisa. Essa intervenção materializa o “que se diga” no dizer do homem dos ratos sobre seu pai. Um segundo antes era nada, um instante depois já é um dizer que pode ser lido como um desejo inconsciente de morte, entre outras possibilidades.
Assim, em uma análise, tudo o que você disser pode depor contra você. Mas não porque há segredos nos porões, e sim porque, performativamente alguma coisa vem a estar ali. Essa coisa não estava guardada, escondida debaixo do silêncio. A presença de um silêncio específico, em um momento específico, cristaliza, decanta algo novo que estava ofuscado pela articulação até então em curso, pela maneira como o dito recortava um não-dizer.
Retomando mais uma vez o aforismo agora sem a inversão didática:
- Que se diga: esse é o fato de dizer, o ato de dizer; ele parece o sujeito da frase, por ser o que vem primeiro e, de fato, é o mais importante, mas vai ficar ofuscado pelo sujeito da frase, que está no final, o que se ouve. É o que se ouve que age, ofuscando o que se diga.
- O método de ocultamento de o que se ouve é se servir de o que se diz, do dito em questão. É uma operação sobre o dito que oculta o ato de dizer e essa operação é ouvir (que é muito mais que entender, escutar, mas também é isso). Ao depreender um o que se ouve em aquilo que se diz, oculta-se o ato de dizer, oculta-se o que se diga.
- Mas o que diz o que se diga, o ato de dizer? Por um lado, a potência do dizer, potência desejante em si, que é sempre aberta ao novo. A presença dessa potência do dizer, porém, tem outros efeitos além de abertura. Esse ato pode decantar alguma coisa outra que não a coisa ouvida.
- Essa alguma coisa é o não dito que se perdia quando se escutava, quando se queria demais entender alguma coisa. O que faz uma interpretação é colher alguma coisa nova no dizer que não o que se escutou no dito. A interpretação é a extração de um novo dito a partir da abertura do ato de dizer.
Materializa-se um real que é – nos termos de Lacan – sempre “hiância e texto”. No início de uma análise este real é mais texto do que hiância, no final a proporção se inverte, mas é sempre letra e gozo, indissociáveis.
Uma consequência disso é que em uma análise não há ato em um sentido puro, que aliás, nem existe. Apenas o suicídio seria um puro ato. Todo ato é o ato dentro de coordenadas significantes sendo, portanto, sempre ato de um dizer, mesmo que esse dizer esteja sempre em ruptura com o contexto em que se instaura. Desse modo, na análise, para cada dizer uma estrutura ternária se põe em jogo. Uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que eu sou no que eu digo, e outra ainda é o que posso vir a ser no dizer.
Vale retomar o relato descrito por Hilda Doolittle[2] de um momento de sua análise com Freud, tal como proposto por Miquel Bassols e que Nohemí Brown comenta.[3] Hilda manda flores a seu analista no aniversário dele, como sempre mandava, mas não assina o cartão. Freud não deixa o fato passar em branco e responde a ela agradecendo, e assim como ela, não assina a carta. Na sessão seguinte, ela fala como se isso não tivesse importância. No momento em que ela falava com indiferença daquele assunto, Freud bate no divã e diz: “o problema é que sou idoso, você não acredita que valha a pena me amar”. Estamos, infelizmente, deixando de lado todo um mundo de detalhes que compõem a relação entre eles, especialmente a transferência amorosa, e também negativa, de Doolittle para Freud. Seria preciso ler com calma o Tribute to Freud. Ficaremos apenas com as indicações de Bassols e Nohemí.
Vamos assumir que tudo está concentrado em três elementos ou três planos: o plano do dito, o plano do dizer e o plano do que se decanta entre o que se disse e o que se escutou do que se disse. E nessa história há ainda um quarto elemento, o próprio ato do dizer como potência de reconfiguração e recriação de si na fala.
O analista faz alguma coisa – bater no divã – e isso é algo que está na fala, é um dito, mas um dito entre dito e dizer. E, além disso, ele diz: sou velho demais para você. A partir daí, a dimensão da presença do analista vai se localizar não no que se escutou do que ele disse, mas no que se depositou entre os dois.
O primeiro plano, o mais evidente, que é o da transferência amorosa, do sujeito suposto saber, localiza de um lado, um pai – Freud –, e do outro, Hilda, sempre muito amorosa com aquele senhor. Freud, no entanto, aponta que o jogo entra no termo da mentira. Bassols destaca: ela está deitada e mentindo, lying, no sentindo da ambiguidade do inglês. Isso, porém, traz outro plano para o jogo: ela estava deitada, não apenas em uma transferência amorosa com o pai, mas, também, em uma transferência erótica com aquele que seria seu analista, se oferecendo como objeto na cama para ele. Então, essa é a mentira, ou o outro plano, que aparece na interpretação. Uma interpretação possível seria dizer: “você está aí, meio indiferente e tranquila e esqueceu de mim, mas esqueceu de mim porque você tem uma repulsa por seu desejo amoroso por um velho como eu”. Isso envolve uma espécie de negatividade estranha, porque não equivale a dizer “na verdade, lá no fundo, você tem desejos eróticos por mim”. Isso já faria parte de um segundo plano.
O segundo plano é o da interpretação. O plano de uma interpretação que traz algo de pulsional, não sendo apenas amor, mas, também, desejo. Só que neste plano, Freud aponta para o desejo articulado com a repulsa – um clássico na histeria. Um jogo de repulsa que evidencia o jogo de desejo.
No terceiro plano, Freud bate no divã, e como disse Jacques-Alain Miller, há algo “a mais” na batida, como se o analista estivesse produzindo uma ressonância daquilo que vai além de dizer apenas: “há um desejo erótico por mim”. Seria, por exemplo, como dizer “há um desejo erótico por mim, e mesmo que você esteja assustada comigo morrendo, eu [bate na mesa] estou aqui”.
É importante destacar que não basta traumatizar para entrarmos nesse plano. Quando Freud faz essa intervenção, ela só pode acontecer porque ele está no lugar de objeto que a transferência lhe designa: o lugar do senhor adorável e do senhor mortificado, que pode ser desejado eroticamente de forma inconsciente porque não representa nenhum risco. Então, é desse lugar, com tudo isso em jogo, que Freud bate no divã. E, talvez, seja importante bater no divã, não só porque o divã é o lugar da cama, mas porque isso marca a sua presença. Sem contar com o fato de que ele faz isso na hora exata em que quer se mostrar mais vivo e não velho e acabado.
Essa dimensão da presença do analista atravessando a dimensão “dito e dizer” da transferência e da fantasia, é muito importante. Poderíamos pensar que isso “foi um ato analítico” ou, pior, que o analista “fez um ato” porque transgrediu de alguma maneira. Bater no divã, gritar, ou fazer alguma coisa para sair do setting, nada disso, porém é garantia de que o analista se apresente como vivo, ou em outros termos, como o desejo do analista. A presença do analista, como função, como desejo do analista, se encarna quando um analista aceita se submeter aos significantes do analisante, bancando ser o objeto desse analisante, para poder, aí sim, na hora H, se tudo der certo, se apresentar como real.
Marcus André Vieira[4]
[1] Lacan, Jacques O aturdito In Outros Escritos Jorge Zahar Editor Rio de Janeiro Ed 2003 pg 449, no original: Qu’on disse reste oublié derière ce qui se dit dans ce qui s’entend”.
[2] Hilda Doolittle Tribute to Freud New Directions Publishing, 1984
[3] Cf. Bassols, M. The paradoxes of transference, disponível em
https://static1.squarespace.com/static/5d52d51fc078720001362276/t/616585eed2697c31683c7d27/1634043377909/20140215+Bassols+Transference+New+York.pdf cf. Brown, N. Intervenção no Seminário Clínico da EBP-Rio (inédito).

